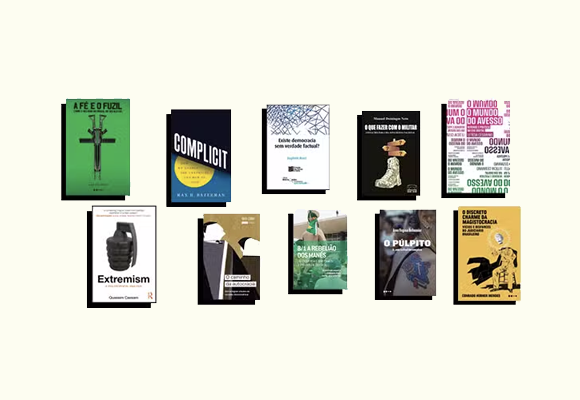Um dia antes de morrer, Felipe foi flagrado por agentes tentando fugir de uma penitenciária no Acre. A documentação oficial relata que o jovem estava “perturbado” e carregava um “objeto pontiagudo” — cenário que teria motivado os agentes a invadirem a cela para “impedir que atentasse contra a própria vida”. Felipe foi alvejado na perna e na região peniana e, em seguida, levado ao hospital. Na volta à penitenciária, o levaram para o isolamento. Um dia depois, foi encontrado enforcado com uma toalha, supostamente vítima de suicídio. Na parede da cela, em letras garrafais, uma última mensagem: “pai, mãe, irmão amo vc”.
A leitura de seu processo não permite saber o que aconteceu depois. O pai, a mãe e o irmão de Felipe foram informados de sua morte? Conseguiram o traslado do corpo para velar o filho? Puderam questionar como se deu o “suicídio”? Receberam orientações para pleitear uma indenização do Estado? A leitura de quase nenhum dos cerca de 4 mil processos analisados na pesquisa “Letalidade prisional: uma questão de justiça e de saúde pública”, publicada em maio, indica os termos em que se estabeleceu a relação entre o Estado e as pessoas que ficam após uma morte sob custódia prisional.
Como o Estado implica as redes de afeto das pessoas que morreram — e assim torna-se responsável não apenas pela gestão da morte, mas também pelo luto de quem fica? Os arquivos oficiais sobre quem morreu e quem ficou são feitos de lacunas, silêncios e apagamentos. Por isso, a partir dos resultados desta pesquisa de autoria coletiva, da qual participamos, nos propusemos a escrever sobre histórias que nos exigiram “imaginar o que não pode ser verificado” — como sugere a escritora Saidiya Hartman no ensaio “Vênus em dois atos”.