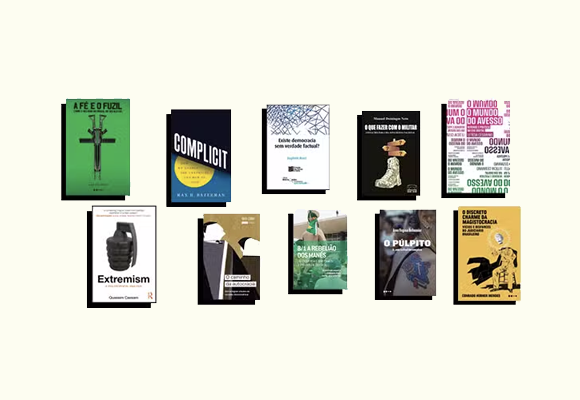Viajar para um país em guerra foi uma experiência inédita na minha vida. E me trouxe uma série de reflexões, dentre as quais uma primeira relacionada à escrita: faz sentido fazer uma crônica de viagem? Como escrever sobre o que me tira a palavra? Superar o silêncio que sufoca cada impressão?
Vi, ouvi e senti uma miríade de coisas que nunca concebi antes. Minha primeira intuição foi respeitar a falta de palavras que chegava como reação ao desespero de um mundo desconhecido e brutal. Eu silencio não porque não vejo, não sinto e não vivo. Silencio porque respeito profundamente a distância abissal entre nossas realidades fraturadas e minha ignorância diante daquele sofrimento. Mais: repudio a folclorização de um país que sofre. A espetacularização da guerra, da dor e da raiva.
Senti dificuldade de fotografar também. Levei uma câmera velha e quase não tirei da mochila. Registrar a destruição me soava um acinte. Um desrespeito à dor e ao luto, à indescritibilidade daquilo tudo, à impossibilidade de precisar qualquer vestígio do que se vive. Ao mesmo tempo, outro impulso oposto tomou conta de mim. Uma compulsão por radiografar cada esquina, cada lambe-lambe na parede, cada checkpoint com placas de “proibido filmar” — como que para provar a existência daquilo, já tão documentada por jornalistas mundo afora.