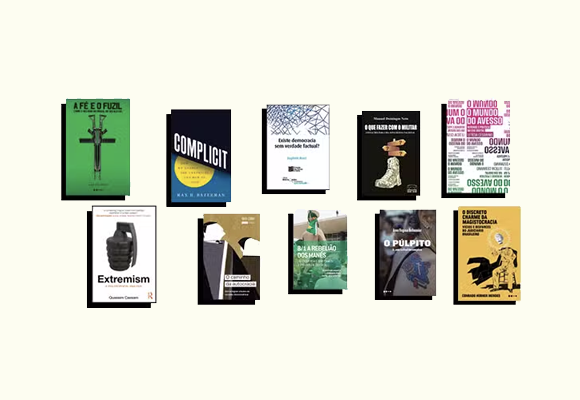Encobrir os rastros das graves violações de direitos, como se pudessem ser apagadas e sua memória se restringir às pessoas atingidas, é uma prática reiterada do Estado brasileiro. Criado em meados do século 19 na região central de São Paulo, o presídio Tiradentes aprisionou, em péssimas condições, pessoas escravizadas, pessoas acusadas de infringir normas sociais e pessoas perseguidas por sua atuação política. Foi demolido em 1973 para a construção da linha norte-sul do metrô, restando somente o arco de pedra que lhe servia de entrada. Quem transita por ali não encontra nenhuma sinalização que indique se tratar de portal tombado como patrimônio histórico, tampouco que no local, onde hoje há uma agência do Banco do Brasil, existiu uma prisão.
No livro A Torre, Luiza Villaméa resgata e entrelaça as histórias de dezenas de mulheres que, por sua oposição à ditadura, foram presas na construção alta, circular e de paredes grossas do presídio. Da Torre, não apenas o prédio deixou de existir, mas também os objetos que as presas políticas reuniram e os registros que fizeram à época — entre os quais as telas pintadas por Marlene Soccas — não tiveram sua retirada autorizada e sumiram.
Enquanto o uso arbitrário da violência e o bloqueio do conhecimento sobre os crimes de Estado eram ferramentas da repressão, as mulheres e os homens presos nos pavilhões do Tiradentes enfrentaram a imposição de silêncio produzindo canais alternativos entre a prisão e o “mundão”, como se referiam ao lado de fora. Inventaram várias estratégias, como a subversão do código morse, o buraco na parede batizado de Josefina, os bilhetes levados na boca apelidados de balinhas, a escrita com suco de limão só desvendada pelo calor.