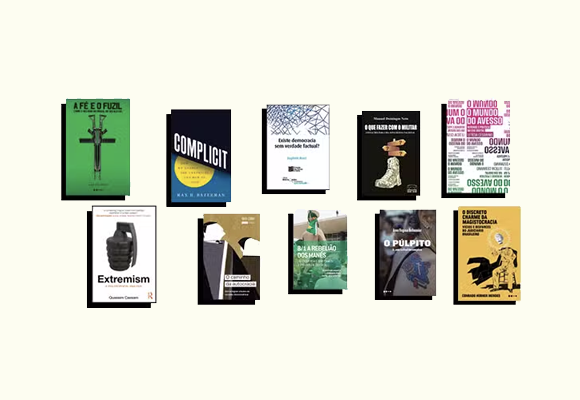Desde a posse de Jair Bolsonaro publicam-se análises sobre a chegada do político ao poder, o seu modo de exercer o cargo. É possível, ainda hoje, o que se denominou de crítica? As publicações não foram submetidas à censura, nem os seus autores a sanções. As intervenções são divulgadas e debatidas. Ao mesmo tempo, o arbítrio é flagrante. Servidores sofrem assédio institucional praticado pelo governo; políticas públicas são desmanteladas. Estamos vivendo a deterioração do regime democrático, esta é uma evidência que se impõe. Mas estamos diante do fascismo? Por onde começar a compreender a experiência política atual? Essa pergunta é o impulso intelectual que dá origem a Linguagem da destruição: a democracia brasileira em crise.
Escrito a seis mãos por Miguel Lago, Heloisa Murgel Starling e Newton Bignotto, se no livro cada um segue um caminho próprio para chegar a uma resposta, todos partem da necessidade de entender a especificidade da experiência política atual. Não se agarram a tradições interpretativas estabelecidas para transformá-las em argumentos finais. Pelo contrário, revisitam e ampliam o legado teórico das experiências históricas passadas à luz dos fenômenos atuais. Aí está o elemento propriamente crítico-reflexivo de Linguagem da destruição: não achar que as condições de inteligibilidade do presente estão dadas.
O denominador comum das análises é a constatação de que o novo poder é dotado de uma “força destrutiva” inédita. À semelhança de outros países, em que governantes eleitos atacam o sistema que os elegeu, a destruição da democracia brasileira não se dá de forma abrupta, através de um golpe de Estado, mas através de uma “corrosão por dentro do sistema”. A ameaça autoritária hoje tem um modus operandi cuja eficácia está justamente em ser equívoco. A destruição não se dá pela mudança do status quo, mas pelo insidioso desgaste dos fundamentos democráticos.