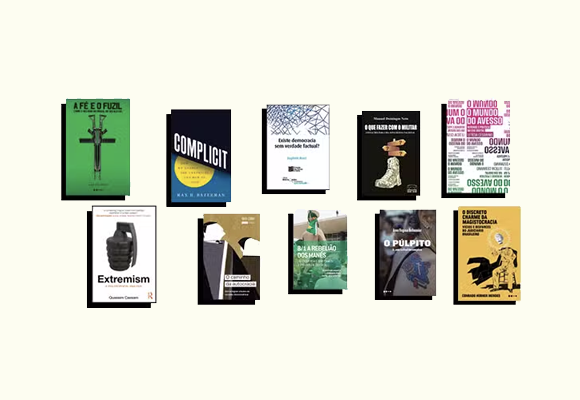O sociólogo David Lyon afirma, em seu clássico livro The Electronic Eye: the rise of surveillance (Olho eletrônico: o aumento da vigilância), que a emergência de uma sociedade de vigilância é, de certa forma, filha do Estado de bem-estar social (welfare state). Para ter acesso à educação, à saúde, à previdência, entre outras políticas públicas, necessariamente a população tem que confiar seus dados ao governo, já que a tão desejada assistência social estaria condicionada a fornecê-los ao “Big Brother”. O “cidadão [precisaria ser] conhecido” é a conclusão e a tradução do título do livro da historiadora Sara Igo (The Known Citizen: A History of Privacy in Modern America), lançado nos Estados Unidos em 2018, que também situa o momento em que o debate sobre proteção de dados se intensificou.
Não é, portanto, por acaso que leis de proteção de dados pessoais emergem justamente quando se consolida o movimento de políticas públicas baseadas em evidências (evidence-based policymaking). Uma infraestrutura jurídica que é forjada para fixar direitos e deveres, de forma cruzada, entre cidadão e Estado, de sorte que o primeiro tenha seu voto de confiança correspondido pelo segundo. Esse resgate histórico revela que o direito à proteção de dados foi desenvolvido para estimular a circulação de informações e não escondê-las.
Da implementação das medidas de distanciamento social, passando por rastreamento de contato e chegando mais recentemente aos chamados passaportes das vacinas, a proteção de dados tem sido, por vezes, utilizada como uma espécie de espantalho para sabotar políticas públicas de combate à pandemia.