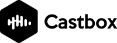e democracia

Vigiar o quê, punir quem?
Anna Venturini: Olá, eu sou a Anna Venturini.
Felipe de Paula: Eu sou o Felipe de Paula.
Pedro Ansel: E eu sou o Pedro Ansel.
Anna Venturini: E este é o quarto episódio da terceira temporada do Revoar, o podcast do LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo.
Felipe de Paula: Se você está acompanhando a gente desde o primeiro episódio, já sabe que nessa temporada o assunto é vigilância e vigilantismo.
No episódio de hoje, a gente vai se aprofundar num tema inescapável: a vigilância e a justiça criminal.
Anna Venturini: Para falar sobre isso, a gente convidou a Poliana Ferreira, doutoranda e pesquisadora na FGV Direito e Diretora da Plataforma Justa; e a Carolina Haber, Diretora de estudos e pesquisas de acesso à justiça da Defensoria Pública do Rio de Janeiro.
Felipe de Paula: No último episódio, a gente falou um pouquinho sobre como as tecnologias de vigilância têm se reinventado e se modernizado com dispositivos de reconhecimento facial e de monitoramento de redes sociais, por exemplo.
Anna Venturini: A gente também contou que, quando o assunto é segurança pública, não há regulação própria sobre a proteção de dados. Isso acontece porque a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica para o tratamento de dados pessoais quando a finalidade é segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e as atividades de investigação e repressão de infrações penais.
Felipe de Paula: A própria Lei Geral de Proteção de Dados prevê que uma legislação específica deve ser criada para regular o tratamento de dados pessoais para fins de segurança pública. Só que essa lei específica, embora venha sendo discutida no Congresso Nacional, ainda não existe. De todo modo, vale lembrar que, mesmo que não exista uma lei, o STF já entendeu que alguns parâmetros constitucionais devem sempre ser observados, como o próprio direito à autodeterminação informativa, que é uma decorrência dos direitos da personalidade.
Anna Venturini: Com essa lacuna, abre-se ainda mais espaço para abusos e violações de direitos. É recorrente o argumento de que o necessário combate à criminalidade, especialmente em países com números assustadores como o Brasil, justifica restrições relevantes.
Só que é o seguinte: sem limites e parâmetros definidos, o discurso oferece uma espécie de “carta branca” para práticas ilegais e autoritárias por parte dos agentes de segurança.
Felipe de Paula: Falando em agentes de segurança, não dá para ignorar que as polícias cumprem um papel central quando a conversa é justiça criminal e vigilância.
Poliana Ferreira: A expressão vigilância é um termo que acomoda distintos atores e funções em práticas de fiscalização e controle de corpos e ações, e nesse termo a primeira instituição que vem à nossa mente é a polícia militar, na realização do policiamento ostensivo, a polícia das ruas, do cotidiano, mas tem outras instituições que é super interessante a gente lembrar quando a gente tá falando de vigilância, como, por exemplo, as guardas municipais, no que diz respeito à proteção do patrimônio público dos municípios, muitas das quais hoje em dia já têm autorização para portar armas de fogo e lembro também as empresas de segurança privada, no que diz respeito à vigilância em shoppings centers, supermercados, restaurantes, e que, no Brasil, a gente já tem registros de mortes provocadas pela atuação de agentes de segurança privada.
Anna Venturini: O policiamento ostensivo que a Poliana mencionou é consequência de uma perspectiva teórica muito específica, chamada de “utilitarista“. Essa perspectiva foi formulada por um grupo de pensadores do século XVIII, entre eles o cara que pensou o panóptico, lembra dele? O Jeremy Bentham.
Felipe de Paula: A ideia desses pensadores é a de que o indivíduo é um ator racional. Por isso, antes de cometer um crime, uma pessoa sempre deverá calcular todos os riscos envolvidos. Como consequência, o sistema penal deve estar preparado para dissuadir potenciais criminosos. E nessa lógica, a perspectiva de punições severas e o policiamento ostensivo – ou seja, a vigilância em estado puro – seriam considerados bons mecanismos para mostrar que o crime não vale a pena.
Anna Venturini: Mas essa não é a única perspectiva possível sobre segurança pública. Existe um modelo, por exemplo, que entende que as pessoas obedecem às leis por estímulos positivos e por recompensas. Mesmo assim, grande parte das estratégias adotadas no Brasil ainda são voltadas para o modelo utilitarista.
Carolina Haber: Uma coisa é teoria, que se chama Justiça Criminal; outra coisa é prática, né? Então, vários estudos mostram que mais de 90% das prisões feitas são em flagrante, então não é aquele caso de investigação, em que os policiais investigam e encontram uma grande rede criminosa, não é isso. É o policial que está na rua, e esse policial é que faz a abordagem e leva essa pessoa presa. Então, os olhos do sistema de Justiça Criminal, é um olhar totalmente enviesado para as pessoas negras, porque a sociedade é racista e o sistema de Justiça Criminal, ele reproduz isso. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso sempre, não dá pra fingir que não é assim.
Felipe de Paula: A Carolina Haber mostra que a vigilância tradicional e ostensiva ainda é o mecanismo padrão da segurança pública no Brasil. E, mesmo com as mudanças tecnológicas que a gente tem citado, o fato é que a população alvo continua a mesma.
A Poliana também apontou o racismo como um elemento estruturante das práticas de segurança pública e da atuação policial.
Poliana Ferreira: As abordagens policiais são resultado das estratégias e das políticas de segurança pública adotadas pelos estados. Com isso, eu quero dizer que a polícia incide de maneira diferenciada sobre grupos, crimes e territórios específicos como estratégia política e operacional.
Anna Venturini: Por isso, precisamos entender como a polícia trabalha. E nos perguntar: quais territórios ela escolhe patrulhar? Que tipo de veículo é parado numa Blitz? Quem são as pessoas que se decide enquadrar?
Felipe de Paula: Grande parte do trabalho dos policiais que fazem abordagens é pautado pela ideia do tirocínio policial. É como se estar na corporação conferisse uma habilidade especial, um “instinto” capaz de identificar o “criminoso”. A Carol Haber falou sobre esse assunto.
Carolina Haber: Um termo interessante que a Jacqueline Sinhoretto usa para falar sobre isso, que é o “tirocínio policial”, que é o que ela denomina aquela experiência que o policial adquire nas ruas para identificar um suspeito no primeiro olhar, aquele experiência dele que ele fala: “Não, eu sei quando alguém é criminoso e está cometendo um crime, e eu consigo ver isso”. A polícia não tem protocolo de abordagem policial, isso não tem. A gente sabe que o policial vai agir dessa forma, com esse tirocínio policial, ele vai ter as tendências dele de identificar uma pessoa suspeita, mas a gente não pensa em protocolos, em formas de controle disso, então eu acho que pelo menos pra gente minimizar essas questões é ter uma regulamentação da atuação do policial.
Anna Venturini: A falta de protocolos para abordagem policial também foi apontada pela Poliana como parte do problema. Ela lembrou que uma das formas mais comuns de autorizar detenções sem nenhuma ou com poucas provas é a ideia de “fundada suspeita”.
Poliana Ferreira: Eu entendo que o fato da nossa legislação trazer tão poucos parâmetros para a atuação da polícia em contexto de abordagem, notadamente no que diz respeito à fundada suspeita, contribui para a atuação policial fora de controle que encontra no racismo os elementos justificadores das suas ações. Logo, não é uma obra do destino o fato de as pessoas negras serem interpeladas em abordagens policiais com maior frequência do que as pessoas brancas.
Felipe de Paula: O fato de pessoas negras, especialmente jovens, serem mais abordadas não é mera coincidência mesmo. Uma pesquisa do ano passado do Instituto Locomotiva em parceria com a Central Única das Favelas constatou, por exemplo, que 64% dos homens negros das classes C, D e E já declararam ter sido abordados pela polícia de modo agressivo.
Ouve só isso daqui:
Nesse ano não teve nenhuma blitz que eu passei e o policial falou: ‘pode ir lá, pode ir lá cidadão’. Nenhuma vez aconteceu isso (…) muitas das vezes eles perguntam: ‘O carro está no nome de quem?, o carro é de quem?’(…) é só ele abrir o documento que ele vai ver que o carro está no meu nome. Porque que toda vez eu tenho que provar que o carro que eu dirijo é o meu carro, sendo que tem outras pessoas que passam por ali e eles não vão nem duvidar que aquilo é daquela pessoa e não vai passar pelo mesmo constrangimento que eu tenho que passar sempre? Se eu passar no mesmo dia em 10 blitzes, eu vou ser parado nas 10 blitz.
Felipe de Paula: Esse áudio é do rapper carioca Lennon, em uma entrevista para o portal de notícias G1.
Anna Venturini: O relato do Lennon é só um entre os milhares que acontecem todos os dias e que a gente não fica sabendo. E o pior de tudo: o problema do racismo ultrapassa a atuação policial. Afinal de contas, outros atores do sistema de justiça, como juízes, defensores públicos e promotores também são afetados.
Felipe de Paula: De fato Anna, se olharmos para a composição dessas instituições de justiça vamos rapidamente perceber que são estruturas elitizadas, compostas por uma maioria de homens brancos de meia idade.
Anna Venturini: O último censo demográfico da magistratura brasileira revelou que apenas 18% dos juízes eram negros em 2018. No Ministério Público, a porcentagem é parecida: 22% dos promotores se declararam negros em 2016. E mesmo na Defensoria, 73% dos defensores públicos federais eram brancos em 2015.
Carolina Haber: Eu acho muito curioso quando a gente fala, principalmente para juízes, promotores, e até para defensores, para as pessoas que atuam no sistema de Justiça Criminal, sobre isso, as pessoas tendem a dizer que não, né? A gente faz um levantamento sobre audiência de custódia lá na Defensoria Pública, com os casos que chegam pra fazer a audiência de custódia, que é a primeira audiência com o juíz, que é aquela audiência logo depois que a pessoa é presa em flagrante. Quando a gente faz a análise, mostra que o negro, ele tem menos chances de receber liberdade provisória do que o branco, e aí você mostra isso e a resposta dos juízes ou dos promotores é dizer: “Ah, mas não é racismo isso, é porque a maioria dos criminosos são negros, é uma coincidência, isso não é racismo”. Então, a gente naturaliza o racismo, a gente não fala sobre ele. Mesmo mostrando dados, esses dados são questionados desse ponto de vista, né? “Não, é porque coincidiu que a pessoa que cometeu o crime é negra, não estou acusando ela, inventado um crime”, e não consegue perceber todo o contexto que tem por trás.
Felipe de Paula: E não é de hoje que pesquisadores tentam mostrar a existência de um perfil muito específico daqueles que são alvos da vigilância e, em consequência, do sistema de justiça criminal.
Anna Venturini: Ainda nos anos 1960, pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma teoria que busca explicar esse fenômeno: a teoria da rotulação ou do etiquetamento. Ela afirma que as ideias de crime e a do criminoso não estão dadas na natureza, mas são construções sociais.
Felipe de Paula: Existem escolhas e normas sociais que rotulam um comportamento como desviante e punível. Para entender melhor isso, podemos olhar para a história. Você sabia que entre 1830 e 2005 a prática de adultério era considerada crime?
Anna Venturini: Na prática, criminalizar o adultério funcionava como uma forma de controlar a sexualidade das mulheres e de proteção da chamada “honra do marido”. O exemplo pode parecer absurdo, mas consegue mostrar como a ideia de crime depende de interações sociais e está permeada por relações de poder.
Felipe de Paula: É por isso que os pensadores da teoria do etiquetamento, e muitos estudiosos depois deles, argumentam que o sistema de justiça funciona de forma extremamente seletiva. Isto é, que o Estado exerce uma vigilância mais intensiva sobre determinados grupos sociais. Invariavelmente, grupos marginalizados, afastados das instâncias formais de poder, que têm menos possibilidade de exercer a sua cidadania.
Anna Venturini: Evidenciar a seletividade do sistema penal é super importante. E a Carol nos contou uma pesquisa da Defensoria que conseguiu mostrar o quão falho e racista é esse sistema de abordagens policiais no Rio de Janeiro.
Carolina Haber: A gente até fez uma pesquisa na Defensoria sobre filtragem racial na abordagem policial, que foi uma pesquisa em que a gente separou os processos do Estatuto do Desarmamento, porque eram processos que, teoricamente, a pessoa não estava, aparentemente, cometendo um crime, não estava tirando um objeto de alguém, ela não estava atirando em alguém, ela não estava com droga na mão. Ela estava andando e um policial olhava para ela e achava que ela estava em atitude suspeita e, quando revistava, encontrava arma. E aí a gente analisou esses casos e essas abordagens que foram consideradas como atitude suspeita pelos policiais, e em 79% dos casos, essas pessoas eram negras.
Felipe de Paula: E vale lembrar que a abordagem policial é só uma das portas de entrada do sistema de justiça criminal. Existem outras formas de vigilância utilizadas nas investigações e processos criminais que são tão ou mais complicadas.
Anna Venturini: Vamos falar agora sobre a produção de provas durante a investigação policial. Conversamos com nossas convidadas sobre as formas de identificação de pessoas acusadas de cometer crimes.
Felipe de Paula: Uma das formas de identificação é o reconhecimento pessoal, regulado pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Esse artigo estabelece que para realizar o reconhecimento de uma pessoa, ela deve ser colocada ao lado de outras que sejam parecidas com ela.
Anna Venturini: Só que a redação do artigo tem uma brecha que abre possibilidades de práticas abusivas. No artigo está escrito literalmente: “a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la”.
Felipe de Paula: Essa expressão “se possível” faz com que muitos Tribunais interpretem que a necessidade de seguir as formalidades da lei seja, na verdade, uma “mera recomendação” do legislador. Ou seja, o judiciário acaba confirmando e legitimando a produção de provas colhidas de forma potencialmente abusiva pela polícia.
Anna Venturini: Só no ano passado, um Ministro do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que o reconhecimento de pessoa presencialmente ou por fotografia só é válido quando forem respeitadas “as formalidades do artigo 226” do Código de Processo Penal. Também indicou que o reconhecimento deve ser confirmado por outras provas colhidas no processo. O Pedro Ansel vai nos contar um pouco sobre o caso que motivou essa decisão.
Pedro Ansel: O caso foi levado ao Superior Tribunal de Justiça pela Defensoria Pública de Santa Catarina por meio de um Habeas Corpus. Nele, duas pessoas foram condenadas por um suposto roubo. A decisão se baseou apenas no reconhecimento realizado na delegacia de polícia, que apresentou duas fotografias às vítimas, que confirmaram que as pessoas da foto eram os autores do crime. Esse tipo de atuação policial já seria por si só bem questionável. Afinal, dá para pelo menos perguntar: de onde surgiram essas fotos? E esse “reconhecimento” fica ainda mais improvável se olharmos mais detalhes do fato. Isso porque, as pessoas que praticaram o assalto estavam encapuzadas durante toda a ação. Como reconhecer a foto de alguém que você não viu o rosto?
Por fim, outro elemento dos fatos foi importante para demonstrar a inocência de uma das pessoas que foi presa. No caso, tanto as vítimas, como algumas pessoas que também estavam no local dos acontecimentos, disseram que a altura de um dos assaltantes seria próxima a 1,70m. No entanto, a pessoa que foi presa em seu lugar media 1,95m de altura. Uma diferença bastante considerável, né?
Felipe de Paula: Esse caso que o Pedro acabou de nos contar é apenas um entre um mar de erros judiciais que, muitas vezes, não têm um desfecho positivo. Um levantamento do projeto “Inocentes Presos” da Folha de São Paulo, revelou que de 100 pessoas presas indevidamente, 42 passaram por procedimentos de reconhecimento.
Anna Venturini: E as tecnologias abrem caminho para que a polícia produza “álbuns de suspeitos” e colabore para prisões injustas que, claro, têm como alvo pessoas negras e periféricas.
Carolina Haber: Hoje em dia você tem celular, nesse caso, o policial tem celular. Ele tira foto de um monte de gente, o policial está o tempo inteiro tirando foto das pessoas quando ele aborda, e aí ele tem um banco de fotos ali no celular dele, então a tecnologia, nesse caso, ela serviu para propagar uma prática de um jeito muito avassalador, que é você tirar fotos das pessoas, e tem grupos de policiais onde eles ficam circulando essas fotos. E aí você entrou num negócio desse, você não sai mais.
Felipe de Paula: A Poliana também alertou para o fato de que esse tipo de registro e monitoramento que acaba produzindo “álbuns de suspeitos” também pode ser realizada por pessoas comuns.
Poliana Ferreira: Eu acho que tem crescido e se normalizado também de uma maneira muito perigosa, por exemplo, na utilização de um celular para fotografar alguém e circular nos grupos de Whatsapp que aquela pessoa é potencialmente suspeita de uma prática de delito, que é julgada também por esses grupos. Então, é algo que se torna absolutamente perigoso, fora de controle, como se o controle social e penal também, que não é feito só pelo estado, se enraizasse comunidades adentro.
“A reportagem comercial de hoje investiga como funcionam os “catálogos de suspeitos” em delegacias pelo Brasil. Em muitos casos, o reconhecimento por fotografia acaba sendo a única prova na hora de apontar um possível criminoso. Uma prova sujeita a equívocos, falhas que em alguns casos estão levando inocentes para a cadeia. Por isso, o reconhecimento fotográfico vem sendo motivo de debate. Um levantamento inédito mostra que os negros são de longe as maiores vítimas desse tipo de erro.”
Anna Venturini: A gente acabou de reproduzir um trecho de uma reportagem que conta sobre a existência de catálogos de suspeitos nas delegacias de polícia e traz dados da pesquisa da Defensoria do Rio de Janeiro, que mostrou que 83% das pessoas reconhecidas são negras. A reportagem também conta a história de Tiago que teve sua foto incluída em um desses catálogos.
Pedro Ansel: O Tiago é uma das pessoas negras vítimas de prisões injustas motivadas pelo reconhecimento fotográfico. Há cerca de quatro anos, ele foi ajudar a rebocar o carro de um conhecido e durante o reboque foi abordado por policiais que descobriram que se tratava de um veículo roubado. Na ocasião, Tiago respondeu em liberdade e foi considerado inocente.
Mesmo assim, a foto dele foi parar em uma lista de suspeitos de uma delegacia do Rio de Janeiro e anos depois sua foto continuou sendo mostrada para vítimas que chegam na delegacia para fazer o reconhecimento fotográfico de criminosos. Resultado: Tiago já foi reconhecido 9 vezes por crimes que não cometeu e duas dessas acusações ocasionaram a sua prisão. A primeira delas foi em 2017, quando ficou 8 meses preso e a segunda foi no início deste ano, situação em que ficou duas semanas encarcerado até ser encaminhado à prisão domiciliar por conta da pandemia de covid-19. Ambas as prisões foram por roubos que Tiago nunca cometeu. Ele foi inocentado pela justiça por inconsistência das provas, baseadas exclusivamente no reconhecimento fotográfico.
Felipe de Paula: Além da perversidade do caso, a Carol evidenciou as consequências para a saúde mental de Tiago e de outras pessoas negras que passam por esse tipo de situação.
Carolina Haber: O caso que a Defensoria aqui do Rio levou pro STJ, do Tiago, que o STJ absolveu ele, ele foi processado nove vezes. O outro caso que eu estava vendo uma notícia, de um cara aqui no Rio também, São Gonçalo. Ele foi processado 14 vezes, a matéria dizia que ele tira foto dele o tempo inteiro, para provar onde ele está. Imagina a paranóia dessa pessoa, porque ele já foi processado 14 vezes, ele está na décima terceira absolvição. E aí, não é à toa que a gente ouve várias histórias de pessoas negras que relatam que não podem sair de casa sem documento, que às vezes têm que andar com nota fiscal de algum produto que elas tenham, porque é muito comum que, se você tem uma televisão muito cara, uma máquina fotográfica ou um computador, o policial achar que você roubou aquilo, e aí as pessoas andam com nota fiscal. Quem anda com nota fiscal? Quando que um branco anda com uma nota fiscal no bolso, de um produto que é dele?
Anna Venturini: As chamadas “falsas memórias”, também são um fator que concorrem para erros no reconhecimento fotográfico. Elas ocorrem quando uma pessoa lembra de eventos que não aconteceram, situações nunca presenciadas ou têm recordações distorcidas de um fato.
Felipe de Paula: Sugerir informações ou forçar as pessoas a evocar memórias, assim como acontece nas delegacias durante a apresentação de listas de suspeitos às vítimas de crimes, pode potencializar a ocorrência de falsas memórias. Isso contribui para que inocentes sejam reconhecidos como autores de crimes que nunca cometeram.
Carolina Haber: É essa questão das falsas memórias, que no reconhecimento fotográfico é super importante. Que é como você, quando acaba de sofrer um crime, ser assaltado ou coisa do tipo, você não consegue, você está muito nervosa, você não consegue identificar a pessoa, né? E aí você sabe que é uma pessoa negra, por exemplo, aí o policial te mostra um monte de fotos de pessoas negras e fala: “Ah, esse aqui comete vários crimes”. Tinha um caso lá, na pesquisa que a gente fez, também, de uma pessoa que tinha sido furtada de um determinado jeito, e aí o policial falou: “Ah, esse aqui é o que sempre furta desse jeito, aqui na região, olha, está aqui a foto dele.” Então, a pessoa não tem condições de reconhecer, a gente não tem. Se a gente quiser lembrar a roupa que a gente estava ontem, a gente não consegue, né? Quem dirá na hora do nervosismo, que você não olha direito para o rosto da pessoa, ter que fazer esse reconhecimento.
Anna Venturini: Além da produção precária de provas, outro elemento apontado como problemático pela Carol é a confiança quase cega que o sistema de justiça confere à palavra dos policiais.
Carolina Haber: O sistema, ele é feito de um jeito que as coisas se retroalimentam, assim. É muito maluco porque, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eles têm uma coisa, que é a famigerada Súmula 70, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela fala que a palavra do policial, é suficiente para a condenação, não precisa ter outra prova. Então o que acontece? Quando a gente tem processos que não são processos com testemunha, né? Sei lá, por exemplo, tráfico de drogas. Então o policial faz a abordagem, leva essa pessoa para a delegacia, dá o seu depoimento sobre como foi a abordagem, essa pessoa vai passar por um processo criminal, por uma audiência de instrução…Nessa audiência de instrução, as testemunhas ouvidas são os policiais, eles reproduzem o que eles disseram na delegacia, o juiz pergunta para eles, aqui no Rio principalmente, isso:“Ah, da sua experiência, aquele lugar é dominado pelo tráfico?”; “Ah, aquele lugar é dominado pelo tráfico”; “Ah, então se ele estava lá, com drogas, ele faz parte da organização criminosa junto com o tráfico”, a pessoa é condenada pelo artigo 33 e o 35, né? A gente fez uma pesquisa na Defensoria, também, mostrando isso, que a gente analisa mais de 3 mil sentenças aqui do Rio. Por isso que eu falo que o sistema se retroalimenta, porque o juiz fica muito confortável numa posição de só ouvir o policial, e ainda tem a Súmula 70 para ele ainda colocar lá na decisão final: “Olha, de acordo com a Súmula 70 está tudo certo, eu posso fazer isso”, e ele só ouve o policial, e eles se retroalimentam nesse sentido. O policial se legitima com a sentença do juiz e o juiz se legitima com a palavra do policial.
Pedro Ansel: Para ilustrar melhor a situação, trouxe pra vocês alguns dados dessa pesquisa mencionada pela Carol. Ela foi publicada em 2018 pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro onde foram analisadas 2.591 sentenças de agosto de 2014 a janeiro de 2016, envolvendo mais de 3 mil pessoas acusadas de infringir a Lei de Drogas. A pesquisa concluiu que mais da metade das condenações foram baseadas apenas nos depoimentos dos agentes de segurança que realizaram a prisão. Além disso, 59% das pessoas que foram presas estavam sozinhas no momento da prisão, e 77% não tinham antecedentes criminais, mas nenhum desses elementos foi suficiente para tirar o peso da palavra dos policiais.
Anna Venturini: Como pudemos ver até agora, são muitos os fatores que colaboram para que pessoas negras continuem sendo abordadas, monitoradas, acusadas e presas injustamente. O que podemos fazer diante desse cenário? Será que a tecnologia não poderia ajudar de alguma forma?
Felipe de Paula: No episódio anterior, o Pablo Nunes comentou sobre o uso de tecnologias em segurança pública, e nos contou sobre o projeto de informatização das delegacias de polícia no Rio de Janeiro, e falou também sobre a possibilidade de identificar as áreas mais afetadas por ocorrências criminais com o uso da tecnologia de geolocalização.
A Poliana também trouxe uma perspectiva interessante sobre as câmeras corporais como forma de monitoramento da atividade policial, mas fez algumas ressalvas sobre o real alcance dessas tecnologias.
Poliana Ferreira: As câmeras de vigilância fixas e as câmeras móveis, aquelas que são acopladas aos uniformes policiais ou em viaturas, por um lado, elas contribuem para a produção de políticas de segurança pública, sobretudo na formulação de estratégias de prevenção; elas também contribuem para consolidação de mecanismos, de prestação de contas e de transparência das ações policiais; além disso, os materiais audiovisuais produzidos por essas tecnologias também têm potencial de qualificar as provas nos processos de responsabilização criminal, e de informar com elementos objetivos eventuais circunstâncias caracterizadoras da existência ou não da legítima defesa, em contexto de abordagens policiais que resultaram em mortes. Embora seja importante frisar que esse material não tem suporte para definir os desfechos jurídicos nos processos, porque ali a gente está alterando em outra lógica, então as imagens não dizem tudo, têm uma série de outros pontos que a gente precisa levar em consideração. Por outro lado, a sociedade civil não tem informação e controle sobre a gestão desse tipo de material, então a gente sabe pouco sobre os bancos de dados que surgem daí e sobre o que é feito com esse material.
Anna Venturini: A Carol também ressaltou que mesmo com a tecnologia, abordagens abusivas ainda continuam acontecendo. E que mesmo as gravações de imagens nem sempre são suficientes para tirar o peso da palavra dos policiais.
Carolina Haber: Você pode usar a tecnologia a seu favor. Teve um caso, em São Paulo, do menino que conseguiu provar que desceu pra fumar? Ele desceu pra fumar no prédio, aí o policial abordou ele, levou ele, disse que ele tinha cometido um crime há alguns metros dali, e aí, por um acaso, ele conseguiu a câmera para provar que ele não saiu dali, que ele desceu e subiu, que ele estava ali o tempo inteiro. Mas, quantas pessoas conseguem ter acesso a isso, na fase do inquérito, principalmente? Hoje em dia, a gente vê os casos que a pessoa consegue provar que não estava é porque ela estava presa, daí não tem jeito, o Estado tem que dizer: “Olha, essa pessoa não podia estar cometendo esse crime porque ela estava presa”. Porque tem alguns casos que a gente viu na pesquisa que a gente fez do erro de reconhecimento fotográfico. A pessoa estava presa, não podia ter sido ela, então assim, aí é óbvio, não tem o que fazer, mas fora isso, você não consegue provar.
Felipe de Paula: Ou seja, Ana, mesmo quando as tecnologias surgem como alternativa para melhorar o controle e a responsabilização de agentes de segurança do Estado, as brechas continuam existindo e o racismo estrutural continua a se impor.
Anna Venturini: A realidade não é mesmo nada animadora. Já é super conhecido que o Brasil tem em números absolutos a terceira maior população de pessoas presas no mundo. Também não é novidade que mais da metade das pessoas privadas de liberdade são negras.
Não é à toa que as nossas convidadas não enxergam boas perspectivas no campo da justiça criminal.
Poliana Ferreira: Eu acho que a tendência é de aumento do encarceramento, porque do meu ponto de vista o problema não está no uso de novas tecnologias, está na racionalidade penal e na maneira como o sistema está organizado para punir e aprisionar mais pessoas. Então, eu não consigo imaginar que a mera introdução de novas tecnologias seja suficiente para alterar o estado de coisas, para reduzir a taxa de encarceramento. A gente teria que mergulhar em outros âmbitos do ponto de vista da política criminal, do ponto de vista da legislação penal e processual penal; na formação dos magistrados também e tentar compreender como eles formulam as suas justificativas para julgar pessoas nesse país sem se dar conta ou ignorando as altas taxas de encarceramento que o país tem e que têm crescido desde a década de 90 de maneira exponencial, fora de controle.
Felipe de Paula: O embate entre o que está escrito na lei e o que acontece na prática acaba, inclusive, permeando outros mecanismos criados para o desencarceramento. A Carol trouxe dois exemplos pra gente. Primeiro, a alteração do rol de Medidas Cautelares no processo penal, aprovada em 2011, que buscava incentivar os juízes e juízas a aplicarem medidas diferentes da prisão preventiva. Segundo, as audiências de custódia, implementadas em 2015, que são esse espaço de apresentação imediata da pessoa presa a uma autoridade judicial no caso da prisão em flagrante.
Carolina Haber: Eu sou bem pessimista com relação a essas coisas, porque lá atrás, quando alteraram a lei das cautelares no processo penal, que a gente estava até lá em Brasília, fizeram um rol mais amplo de cautelares… Estava escrito no Código do Processo Penal que a prisão preventiva tinha que ser a última medida a ser adotada, só se as outras não pudessem ser aplicadas, e tal, não funcionou na prática, porque os juízes continuam prendendo. Depois, audiência de custódia: a audiência de custódia, ela é maravilhosa, serve para várias coisas, principalmente questões de tortura e tal, mas ela também tinha uma aposta, de ela reduzir a população carcerária provisória, que cerca de 40% da nossa população carcerária é preso provisório. Também, audiência de custódia não adiantou porque no fundo o juiz mecanizou aquele processo ali de ver o réu, e aí cria subterfúgios: “Ah, ele não trouxe comprovante de residência”, “Eu não sei se ele tem endereço comprovado, não sei se ele trabalha, ele não tem carteira de trabalho”, né? Pede coisas formais que, também, todo mundo anda com a carteira de trabalho, né?
Anna Venturini: Mesmo diante das dificuldades estruturais, nossas entrevistadas trouxeram algumas recomendações e ideias para garantir um controle externo maior sobre a atuação dos atores da justiça criminal e, ao menos, minimizar seus impactos negativos sobre determinados grupos da população.
Poliana Ferreira: Eu entendo que nós precisamos de medidas estruturais e conjuntas que considerem atores distintos. Por exemplo, alteração do código de processo penal e de legislações específicas estaduais de modo a reduzir a discricionariedade da polícia civil e militar pode contribuir para a redução desses problemas. Ao mesmo tempo que o investimento na formação dos policiais e em mecanismos que aumentem a transparência e a prestação de contas a respeito da atuação policial, nesse sentido, a publicidade de inquéritos policiais civis e militares que apuram práticas como insultos, lesões corporais e homicídios dolosos e culposos são estratégias institucionais que podem contribuir tanto para a qualificação da atuação policial como também para o controle dessas ações pela própria sociedade civil.
Felipe de Paula: Além da atuação do legislativo para regular melhor, e da participação da sociedade civil no controle externo dos agentes de Estado, o judiciário também tem um papel fundamental a cumprir.
O Pedro trouxe pra gente um caso internacional que exemplifica bem isso.
Pedro Ansel: Em 2013, uma discussão sobre abordagem policial na cidade de Nova York ganhou repercussão internacional. Foi quando a Juíza Federal Shira Scheindlin assinou um decreto determinando a revisão das táticas de combate ao crime usadas pela polícia da cidade baseadas no conceito de “parar e revistar”, por violarem os direitos constitucionais das minorias.
A juíza argumentou que a política de abordagem policial adotada era enviesada por um “perfil racial indireto”, que tinha como alvo preferencial grupos racialmente definidos, o que resultava em detenções desproporcionais e discriminatórias de dezenas de milhares de negros e hispânicos. O relatório que baseou a decisão da juíza sugeria que os policiais se sentiam pressionados a cumprir a política de tolerância zero do Prefeito Michael Bloomberg. Isso porque passaram a abordar constantemente homens jovens de minorias raciais vasculhando seus bolsos em busca de armas, drogas e produtos contrabandeados antes de libertá-los.
Para Scheindlin, a conduta dos policiais se configurava como uma violação à Quarta Emenda da Constituição americana, que protege contra buscas e apreensões absurdas.
Felipe de Paula: Pensando nesse caso que o Pedro trouxe, a Carol lembrou que os próprios defensores públicos, os advogados e advogadas também têm um papel relevante aqui. Afinal, são eles que, em geral, provocam o judiciário para se manifestarem sobre problemas coletivos. Ela sugeriu também que uma atuação mais ativa da defesa durante as investigações policiais pode ser um caminho para garantir maior proteção e maior efetividade sobre os direitos das pessoas acusadas pelo sistema de justiça criminal.
Carolina Haber: Sempre que a gente vai explicar isso pra quem não é do direito é: “Olha, na teoria, na lei está tudo lindo, funcionando. O problema é o que acontece de fato, né?”. Uma coisa que eu acho que era muito importante acontecer é a gente fortalecer a investigação defensiva. Por quê? A gente não tem ninguém acompanhando uma pessoa nessa fase. Se a pessoa não tem um advogado particular, essa fase de investigação, do inquérito, ela não é acompanhada, né? Não tem ninguém ali pra defender aquela pessoa. Tem um movimento forte para que os defensores pudessem – é que não tem braço pra isso — mas que pudessem atuar nessa fase para já garantir que os direitos dessa pessoa sejam assegurados. Porque na hora que alguém te identificou, o policial mandou sua foto pra vítima e ela se identificou, você fazer prova em contrário é muito difícil, e aí, querendo ou não, a gente sabe, na teoria, que o inquérito é só uma fase que é investigatória, que as provas tem que ser, depois, produzidas de novo em juízo .Mas a gente sabe que na prática, tudo o que acontece no inquérito é usado no processo, depois, na fase processual.
Anna Venturini: A gente já está chegando ao fim deste episódio do Revoar, e assim como nas outras temporadas, a gente vai dar dicas de filmes e livros pra você continuar refletindo sobre o assunto. A Luisa Plastino pediu que as nossas convidadas fizessem as suas recomendações. Primeiro, a dica da Poliana Ferreira:
Poliana Ferreira: Como sugestão cultural, eu recomendaria o livro Cidadã – Uma Lírica Americana, de Claudia Hankine. O livro apresenta narrativas sobre as experiências subjetivas de mulheres negras nos Estados Unidos. E é um livro interessante, porque ele aborda como mulheres negras percebem e vivenciam a vigilância ostensiva dos corpos brancos sobre corpos negros, alcançando nessas narrativas a atuação estatal, e aquela operada por pessoas comuns, na esfera das relações privadas.
Felipe de Paula: A Luisa também perguntou pra Carolina Haber:
Carolina Haber: Não sei se vocês conhecem, mas tem um podcast da Defensoria do Rio que chama “Acesso à Justiça”, e o último episódio foi sobre reconhecimento fotográfico. E daí eles ouviram a defensora que é da coordenação de defesa criminal, e a defensora, que é a Rafaela, que impetrou esse HC, do réu, do Tiago, que foi um HC que chegou no STJ, e aí ele conseguiu ser absolvido, mas é essa pessoa que já foi acusada nove vezes.
Anna Venturini: E a Luisa também tem dicas culturais pra dar aqui no Revoar.
Luisa Plastino: A nossa dica de hoje é o curta “Dois Estranhos”, que venceu o Oscar este ano e está disponível na Netflix. No filme, o personagem Carter James, um homem negro, tenta voltar para casa, mas a cada dia é abordado no caminho pelo mesmo policial. O curta é uma homenagem a George Floyd, afro-americano assassinado por asfixia em 2020 pela polícia de Minneapolis, e nos convoca a refletir sobre as relações entre racismo, vigilantismo e a violência do Estado.
Anna Venturini: E assim a gente termina o quarto episódio da terceira temporada do Revoar, o seu podcast sobre liberdade e autoritarismo.
Felipe de Paula: Nosso papo da semana que vem será sobre proteção de dados pessoais e inteligência estatal. Nossos convidados serão os pesquisadores José Rafael Carpentieri e Paulo Rená.
Anna Venturini: Você também pode acompanhar o Revoar pelo Instagram, em @revoar.podcast, e pelas redes sociais do LAUT.
As referências dos áudios que a gente usou nesse programa tão na página do Revoar, no site do LAUT, em laut.org.br/revoar.
Felipe de Paula: O Revoar é uma produção da Rádio Novelo para o LAUT – o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo.
A coordenação é da Paula Scarpin e da Clara Rellstab. A produção é da Clara Rellstab, e a edição é da Claudia Holanda. A pesquisa para este podcast é do Pedro Ansel e da Luisa Plastino, que também participam das entrevistas. A música original é da Mari Romano, e a finalização e a mixagem do programa são do João Jabace. A coordenação digital é da Iara Crepaldi, da Andressa Maciel e da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição.
Fiquem bem. E até semana que vem.
Anna Venturini: Nos vemos na próxima revoada. Até lá!
Ao menos 50% dos homens negros no país já passaram por constrangimentos em abordagens policiais. As pessoas negras também compõem 83% dos brasileiros presos injustamente por reconhecimento fotográfico. E esses números não são mera coincidência, há muitos fatores estruturais que explicam a seletividade na abordagem, no monitoramento, nas acusações e nas prisões de pessoas negras no Brasil.
Essa realidade é, em grande medida, resultado da combinação do racismo, elemento estruturante das práticas de segurança pública e de atuação policial; de um modelo de vigilância ostensiva e de instituições de justiça elitistas, compostas por uma maioria de homens brancos de meia idade (magistratura, ministério, defensoria). Além disso, vale destacar que a produção de provas no processo criminal ainda é muito precária: é comum a realização de procedimentos de reconhecimento imprecisos e que levam a equívocos; também é bastante frequente que a palavra dos policiais seja pouco ou nada questionada pelos integrantes do sistema de justiça – mesmo após a introdução das câmeras corporais (para monitoramento da atividade policial), continuam acontecendo abordagens abusivas por parte dos agentes de segurança; e as gravações de imagens nem sempre são suficientes para tirar o peso da palavra dos policiais.
Como resultado dessas escolhas, o Brasil tem, em números absolutos, a terceira maior população de pessoas presas no mundo, sendo que mais da metade dessas pessoas privadas de liberdade é negra. O que podemos fazer diante desse cenário? A tecnologia não poderia ajudar de alguma forma?
Sem dúvida, evidenciar a seletividade do sistema penal é muito importante para evitar injustiças e até perseguições – e é sobre esse tema que se debruçam Anna Carolina Venturini e Felipe de Paula junto com as convidadas Carolina Haber, doutora em direito pela USP e diretora de estudos e pesquisas de acesso à justiça da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro; e Poliana Ferreira, doutoranda em Direito na FGV DIREITO SP, onde também atua como pesquisadora, e diretora da Plataforma Justa.org.br.
As entrevistadas do episódio ‘Vigiar o quê, punir quem?’ nos ajudam a entender quem são os vigiados e como o Estado reproduz discriminações. Trazem recomendações para garantir um controle externo maior sobre a atuação dos atores da justiça criminal e minimizar seus impactos negativos sobre determinados grupos. Sugerem ainda, que, além da atuação do legislativo na regulamentação e da participação da sociedade civil no controle externo dos agentes do Estado, o judiciário tem papel fundamental nesse cenário – e os próprios defensores públicos e advogados também, pois, em geral, provocam o judiciário para se manifestarem sobre problemas coletivos. Para elas, essas medidas podem colaborar para garantir maior proteção e efetividade sobre os direitos das pessoas acusadas pelo sistema de justiça criminal.
Aprofunde-se no tema
Ao final do episódio, nossos apresentadores e convidados indicam livros, filmes, documentários e artigos que colaboram para o aprofundamento do tema discutido. Confira:
Carolina Haber indica:
- O podcast ‘Acesso à Justiça (#18)‘, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro.
Poliana Ferreira recomenda:
- O livro ‘Cidadã – uma lírica americana‘, de Claudia Rankine, pela Editora Jabuticaba.
Luisa Plastino sugere:
- O curta-metragem ‘Dois Estranhos‘, dirigido por Travon Free e Martin Desmond Roe.
Áudios utilizados no episódio 04
Trecho de reportagem do G1 em que L7NNON fala sobre racismo.
Trecho de reportagem do Fantástico sobre presos injustamente por reconhecimento fotográfico no Brasil.
–
O Revoar é publicado semanalmente, às quintas-feiras, sempre no começo do dia. A temporada Vigilância, vigilantismo e democracia é apresentada por Anna Carolina Ribeiro e Felipe de Paula, com produção da Rádio Novelo.
Para falar diretamente com a equipe, escreva para revoar@laut.org.br.
Acompanhe o Revoar também no Instagram.

Doutora em direito pela USP e diretora de estudos e pesquisas de acesso à justiça da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Doutoranda em Direito na FGV DIREITO SP, onde também atua como pesquisadora, e diretora da Plataforma Justa.org.br
Ficha técnica
Apresentação: Anna Carolina Venturini e Felipe de Paula
Coordenação geral: Clara Rellstab
Roteiro: Anna Venturini, Felipe de Paula, Luisa Plastino e Pedro Ansel
Tratamento de roteiro: Clara Rellstab
Pesquisa: Pedro Ansel e Luisa Plastino
Edição e montagem: Claudia Holanda e Julia Matos
Finalização e mixagem: João Jabace
Engenheiro de som: Gabriel Nascimbeni (Estúdio Trampolim)
Música original: Mari Romano
Identidade visual: Sergio Berkenbrock dos Santos
Coordenação digital: Iara Crepaldi e Bia Ribeiro
Redes sociais: Andressa Maciel e Iara Crepaldi