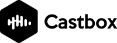e democracia

Justiça encapuzada: quem vigia os vigilantes?
Anna Venturini: Olá, eu sou a Anna Venturini.
Felipe de Paula: Eu sou o Felipe de Paula.
Pedro Ansel: E eu sou o Pedro Ansel.
Anna Venturini: E este é o sexto episódio da terceira temporada do Revoar, o podcast do LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo.
Felipe de Paula: Nessa temporada, o assunto é vigilância e vigilantismo. Nos episódios anteriores, falamos bastante sobre vigilância, pelos ângulos mais diversos. E, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o vigilantismo propriamente dito.
Anna Venturini: Nossos entrevistados são: o Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo; e a Camila Asano, diretora de programas da Conectas.
Felipe de Paula: Pra começar, acho que é importante a gente relembrar o que estamos chamando de vigilantismo. A gente falou disso lá no primeiro episódio, lembram?
Anna Venturini: É, Felipe. Só que agora a gente vai se aprofundar nessa ideia e conversar sobre ações consideradas vigilantistas.
Felipe de Paula: Claro que há diferentes usos pra expressão, Anna. Mas para o que adotaremos aqui, o primeiro ponto fundamental é a ideia de que, diante de uma resposta insuficiente, de uma negligência do Estado, ou mesmo pelo entendimento de certos grupos de pessoas, esses grupos surgem para tentar resolver supostos problemas de forma independente e, na maior parte dos casos, de forma violenta e à margem da lei.
Anna Venturini: É o que a gente costuma chamar de “fazer justiça com as próprias mãos”. Parece coisa de filme de super herói, mas infelizmente isso acontece na vida real e resulta em violência física ou psicológica. E como a gente já falou nessa temporada, há grupos que são alvos desse tipo de ação com mais intensidade e frequência.
Felipe de Paula: O Bruno Paes Manso trouxe pra gente essa noção de que práticas vigilantistas surgem como resultado de uma inação ou ação insuficiente do Estado:
Bruno Paes Manso: Então, eu acho que o vigilantismo surge nesse contexto de uma instituição democrática frágil, diante de uma população se sentindo vulnerável, e que grupos passam a usar a violência como instrumento de estabelecer uma ordem que nunca chega. Isso vai acontecendo permanentemente ao longo do tempo. Eu acho que, no geral, teria essa conotação mesmo né, de grupos que se formam mediante instituições democráticas frágeis e eles passam a tentar se colocar como um substituto da justiça, mais eficiente, por usar a violência como instrumento para impor a ordem nesses lugares. Muitas vezes com extermínio e tudo mais.
Anna Venturini: A Yasodara Córdova, nossa convidada lá do primeiro episódio, também mencionou que o vigilantismo é uma reação a uma situação desequilibrada.
Ela trouxe o exemplo dos vigilantes, um termo muito usado para se referir a profissionais de segurança no Brasil. É comum vermos bairros de várias cidades com “vigilantes” que cuidam da segurança daquele território. Diferentemente das outras ações vigilantistas que a gente vai falar no episódio de hoje, essa normalmente não acontece à margem da lei. Isso porque, desde 1996, a atividade dos vigilantes profissionais passou a ser regulada e fiscalizada pela Polícia Federal.
Pedro Ansel: Antes de a gente se aprofundar no assunto, é importante fazer uma contextualização rapidinha sobre as normas que regulam a atividade de segurança privada no país.
As bases dessa regulação foram lançadas em 1983 pela Lei Federal nº 7.102 que estabelece regras para criação do funcionamento de empresas privadas que exploram serviços de vigilância. Essa lei foi alterada várias vezes ao longo do tempo, sendo que uma de suas principais mudanças aconteceu justamente em 1995, quando a Lei 9.017 conferiu à Polícia Federal as atribuições de regular, coordenar e fiscalizar os serviços de vigilância.
Segundo essa lei, o termo “vigilante” se refere ao empregado contratado para execução das atividades de segurança. E inclusive, existem critérios que precisam ser preenchidos para ser um “vigilante”, como: ser brasileiro, ter no mínimo 21 anos, ter cursado pelo menos até a quarta série do primeiro grau, ser aprovado em um curso de formação de vigilante, passar por exames de saúde física, mental e psicotécnico, não ter antecedentes criminais e não ter pendências eleitorais e militares.
Felipe de Paula: Boa, Pedro. Então, para que não haja dúvidas, hoje nós não adotaremos a definição da legislação. Mas ter essa noção sobre a lei, nos ajuda a trazer um outro ponto fundamental, que é a conexão entre o vigilantismo e a ideia de segurança.
Vamos começar pensando no contexto urbano, depois a gente fala das regiões rurais.
Anna Venturini:O Bruno contou pra gente que o vigilantismo aparece com mais força no contexto da expansão urbana do final da década de 1950. Com o crescimento das cidades, a atuação estatal se mostrou insuficiente para lidar com a chegada de novos grupos populacionais e as condições urbanas precárias.
Felipe de Paula: O Bruno falou também que instituições fracas ou insuficientes são solo fértil para o surgimento de grupos paralelos que tentam resolver os problemas que o Estado não consegue solucionar.
Bruno Paes Manso: Eu gosto de pensar o vigilantismo mais no contexto urbano, que começa a aparecer com força nas cidades nos anos 60. Você tem principalmente no final dos anos 50, quando as cidades estão crescendo, Rio de Janeiro e São Paulo crescendo, mas principalmente Rio de Janeiro, Capital Federal ainda, no final do governo JK, surge o primeiro grupo de policiais prestando conta para uma cidade com medo, e que estranhava os novos bairros e as pessoas que passavam a morar nas favelas em condições urbanas precárias, e que se deparava com uma polícia incapaz de lidar com aquilo que estava acontecendo. E esses esquadrões da morte que surgem, os primeiros em 1958, oferecem essa ideia de que você para lidar com os bandidos que vinham desses lugares, o caminho era exterminá-los,matá-los porque dessa forma você conseguia exercer um certo controle na ordem daquela cidade que estava muito amedrontada. Depois tem um outro grupo de esquadrão da morte que surge nos anos 60, é formada uma irmandade de policiais para fazer a guerra contra o crime em 65, que é a Escuderia LeCoqc. Os paulistas, os policiais de São Paulo vem para o Rio de Janeiro aprender sobre esquadrão da morte e passam a matar em São Paulo também. E isso vai se desdobrando nas próprias instituições que se organizam nas cidades, onde você tem a Polícia Militar e a própria estrutura de segurança que apostam muitas vezes nessa guerra contra o crime, nos bairros vistos como perigosos, acreditando que a violência é uma forma pedagógica e instrumento para tentar levar uma ordem diante de instituições democráticas frágeis, que são vistas como incapazes de garantir a lei ou de preservar a lei. Isso vai se desdobrando de diversas maneiras. Você tem os grupos de extermínio na Baixada Fluminense, o Mão Branca nos anos 80, em São Paulo tem Os Justiceiros também, que são formados nos bairros periféricos, né, paralelamente à violência policial.
Anna Venturini: A Camila também destacou que as ações vigilantistas costumam ocorrer nesse vácuo deixado pelo Poder Público ou também em casos em que o governo incentiva atos violentos, a intolerância e a perseguição de pessoas.
Camila Asano: Quando a gente pensa nessa pegada de vigilantismo como a sociedade se organizando por grupos que são privados, que promovem violência, promovem perseguição, são grupos que eles sim, partem da sociedade, existe um componente da vida privada, só que aqui existe ou um vácuo que é deixado pelo Estado, pelo Poder Público, ou mesmo um incentivo, quando o Poder Público ele age, de modo a incentivar práticas violentas, intolerantes e de perseguição. Então aqui, por mais que a gente quando olhe pra lógica do vigilantismo nesse sentido de iniciativas no âmbito da sociedade, que seriam para estatais, ainda assim existe essa relação direta com o Estado e com o Poder Público né, como eu mencionei, seja pelo vácuo deixado, e é um vácuo propositadamente deixado, ou por um Poder Público que age afim de promover políticas públicas e legislações que incentivam essa dinâmica de perseguição, intolerância…e aí volta pro ponto que é da segurança, olhar a segurança, seja a ideia da segurança nacional, da doutrina da segurança nacional, do inimigo externo, de como a gente tem que se proteger. Uma hora é comunismo, outra hora é globalismo e aí, abre toda essa criatividade autoritária, mas também a segurança no sentido de segurança pública. Então, quando a gente vê casos como esses de linchamento, tão muito ligados a essa ideia que foi criando no Brasil, de que segurança pública ela tem que ser uma política violenta, uma política de morte, e não uma política justamente de segurança, e que essa segurança permita a dignidade e a liberdade da vida das pessoas.
Felipe de Paula: A Camila Asano também trouxe pra gente uma outra perspectiva do vigilantismo, que corresponde ao uso da máquina pública e de mecanismos institucionais com o pretexto da segurança nacional para reduzir direitos e perseguir pessoas.
Camila Asano: Na Conectas, vigilantismo a gente têm olhado como esse uso da máquina pública, realmente o poder público, e as suas instituições, seus vários órgãos e mecanismos institucionais da máquina pública, sob pretexto de uma segurança, seja uma segurança nacional ou uma segurança pública, de acabar minando a liberdade dos indivíduos e também usando a máquina pública para perseguir, intimidar vozes críticas, opositores, pessoas que não pensem igual ao atual governo que esteja no poder. Então, a gente tem dado um pouco essa roupagem pra discussão de vigilantismo.
Anna Venturini: As duas visões estão relacionadas ao histórico autoritário do país e também à forma como a sociedade brasileira passou a ver a segurança pública como sinônimo de violência. O Bruno contou um pouco sobre essa conexão entre o vigilantismo, a ditadura e a ideia de inimigo interno que discutimos no episódio passado. Ouve só:
Bruno Paes Manso: Sem dúvida, o período da ditadura militar foi muito importante para fomentar a ação desses grupos, né? Não apenas porque boa parte dos integrantes dos esquadrões da morte, desde o Sérgio Paranhos Fleury, aqui em São Paulo, como o próprio Amuri Kruel, que foi o primeiro Secretário de Segurança na época do Juscelino Kubitschek a incentivar o primeiro esquadrão da morte, que depois era chefe da Região Sudeste aqui do Exército em São Paulo durante o Golpe Militar. Mas você teve também uma série de pessoas ligadas aos porões da repressão, aos grupos que atuavam contra a guerrilha, que depois vão fazer parte e vão ter parcerias com grupos de esquadrões da morte e grupos de extermínio. O próprio Fred Perdigão, que é um coronel que atuava no SNI no final dos anos 70 e começo dos anos 80, que foi acusado de ser o responsável pelo planejamento da bomba do Rio Centro, um atentado que fracassou mas que buscava colocar bombas para explodir em um show com 20 mil pessoas no primeiro de maio de 1981, ele depois vai trabalhar junto com o Anísio com grupos de extermínio na Baixada Fluminense, né. E que, na verdade, eles são visões complementares porque mais do que uma visão política sobre a democracia ou sobre o Estado moderno, que o desafio das lideranças são representar os valores coletivos e fazer valer um contrato no Estado de Direito, eles são movidos muito mais por uma ideia de “guerra” a certos bodes expiatórios vistos como empecilho do o desenvolvimento nacional, ou da ordem nas cidades. Então, eles trabalham muito mais com essa ideia de que a ordem se impõe pela guerra contra esses bodes expiatórios que são vistos como um empecilho. Então, acaba sendo um diálogo muito fácil entre os grupos formados nos Doi-Codis e nos porões para o combate à guerrilha, quando a guerrilha acaba, 74, 75, eles passam a usar esses aparelhos e essas ideias e essas estratégias para a guerra ao crime, que passa a ser o grande inimigo das cidades, né. Então, é uma forma de lidar com o problema violenta e com uma mentalidade de guerra, que acaba dialogando na democracia, principalmente nas polícias militares, mas com uma ideia de segurança pública de que pra você lidar com o crime você precisa ocupar os territórios vistos como perigosos e agir contra grupos vistos como suspeitos; negros, pobres, moradores de periferias ou de favelas. Então, você tem uma guerra diária, cotidiana, permanente nesses territórios, como se dessa forma você, pedagogicamente pela violência, ensinaria que existe lei, que existe Estado de Direito, ou exterminando algumas dessas pessoas para deixar a sociedade mais segura. Isso é algo que permanece, da ditadura militar durante a democracia e se fortalece na democracia. A democracia não consegue desconstruir essa ideia, né, não consegue controlar a ação das polícias e desses grupos.
Felipe de Paula: Agora, vamos voltar aos Esquadrões da Morte, ponto levantado pelo Bruno e apontado por muitos como a origem das milícias cariocas.
A história é a seguinte: No final dos anos 1950, no Rio de Janeiro, começam a surgir denúncias de execuções realizadas por um grupo organizado de policiais.
Pedro Ansel: A notícia que você acabou de ouvir fala sobre a morte do famoso Detetive da Polícia Civil do Estado Rio de Janeiro, Milton Le Cocq. Ele morreu no ano de 1964, durante uma troca de tiros com um dos bandidos mais procurados da capital fluminense na época, Milton Moreira, o Cara de Cavalo.
A morte de Lecoq marca o surgimento do mais famoso esquadrão da morte do país, a “Escuderia Le Cocq”. Criado para vingar a morte do detetive, o grupo mobilizou muitos policiais que participaram voluntariamente das diligências atrás do assassino, morto poucos dias depois com mais de 50 tiros. Entre os executores estava Guilherme Godinho Ferreira – o Sivuca – que depois foi eleito deputado estadual com o bordão “bandido bom é bandido morto”.
O esquadrão atuou nas décadas de 1960, 70 e 80, e foi extinto nos anos 2000. Ao menos mil e quinhentas pessoas foram mortas pelo grupo apenas no Espírito Santo.
Anna Venturini: Em São Paulo, o Esquadrão da Morte se estabelece a partir do final dos anos 1960, já após o Golpe Militar, e começa a funcionar com mais força e em conjunto com o Estado na execução de “suspeitos” e “bandidos”. Entre 1968 e 1969, o esquadrão paulista passou a agir enquanto grupo independente e atuou em conjunto com a repressão política da ditadura.
Felipe de Paula: No livro Rota 66 – A História da Polícia que Mata, o jornalista Caco Barcellos aponta que, aparentemente, as Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA) assumiram o papel da limpeza social por meio do extermínio no Estado de São Paulo. Para alguns a ROTA e a sua manutenção nas polícias após o fim da ditadura representou verdadeira “institucionalização” do esquadrão da morte por causa de sua violência e do número de mortes.
Anna Venturini: Só que, mesmo após o retorno democrático, as ações vigilantistas não acabaram e não ficaram restritas aos esquadrões da morte. A década de 1990, por exemplo, foi marcada por muitas chacinas no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Felipe de Paula: E Anna, além de esquadrões da morte, um segundo grupo se destaca nas chacinas e outras ações vigilantistas: as milícias. O Bruno Paes Manso é especialista nesse assunto. Em seu livro – República das milícias – ele conta a história da violência no Rio de Janeiro nas últimas décadas. O livro vai desde a repressão da ditadura até o assassinato de Marielle Franco, passando pelo surgimento dos grupos de extermínio, o poder dos bicheiros e a sua relação com políticos e policiais, o narcotráfico e a expansão das milícias.
Anna Venturini: Apesar da atuação das milícias ter raízes antigas, o termo é mais novo e o fenômeno tem crescido nas últimas décadas, chegando até a disputar a hegemonia com outros grupos criminosos.
E, não dá para pensar nas milícias sem pensar no Rio de Janeiro. O Bruno contou um pouco mais pra a gente sobre as origens históricas da formação das milícias urbanas que atuam no Rio de Janeiro e como as atividades destes grupos paramilitares foram se desenvolvendo ao longo do tempo:
Bruno Paes Manso: As milícias surgem no Rio de Janeiro e estão muito vinculadas à história da dinâmica criminal no Rio de Janeiro. Há uma tradição e uma relação da polícia com a contravenção, com o crime, muito presente na história do Rio, né? Principalmente a partir do jogo do bicho, da relação das polícias do Rio de Janeiro com o jogo do bicho. E da relação que eles passam, inclusive, a exercer com os traficantes de droga, como espécie de inimigos da cidade, o tráfico gerava muito medo nas cidades, mas ao mesmo tempo a polícia conseguia manter uma relação econômica com eles a partir dessa ambiguidade e dessa relação muito próxima com o crime, fazendo extorsões, cobrando arregos, espólios de guerra, como eles chamam, vendendo armas, munições e as próprias drogas apreendidas. Isso sempre fez parte da cultura da cena policial no Rio junto com o crime. Só que o crime no Rio de Janeiro também tem uma particularidade que é o comércio varejista de drogas que passa a se desenvolver ao longo dos anos 80 tem uma relação muito forte com o território. A venda varejista de drogas, no Rio de Janeiro, depende do controle territorial dos bairros. E isso foi crescendo e se espalhando ao longo do tempo, e cada vez mais dependendo de um controle territorial fortemente armado dos grupos para garantir a venda varejista nos seus territórios. E essa dinâmica implicou uma série de confrontos na cidade, e uma série de ações em busca de mercado, de território, entre grupos rivais que deixava a cidade em pânico. Mesmo porque, com o tempo, os armamentos eram muito pesados, né, passaram a fuzis e balas que furam portas de carro e paredes de casa, e essas balas traçantes no meio da noite, que deixava a população muito vulnerável. E as milícias elas surgem como um novo modelo de negócio a partir dos anos 2000 com uma proposta de controlar territórios, para evitar que as facções chegassem nesses territórios que eles controlassem. Então, eles passam a se colocar como uma espécie de governos territoriais também. Um novo modelo de controle territorial feito pelos paramilitares. Principalmente na região da Zona Oeste, em torno de Jacarepaguá e de Campo Grande, Santa Cruz, que começa a se expandir pela baixada, pelo interior do Rio, principalmente ao longo dessa última década. Mas ocorre no Rio, e é importante, e surge no Rio porque é uma proposta de controle territorial e de defesa armada do território. Primeiro eles se colocam como o antídoto à expansão do tráfico, mas com o passar do tempo eles passam inclusive a gerir a venda de drogas nesses bairros e a se aliar com grupos traficantes também.
Felipe de Paula: E como a gente já disse em outros episódios, as novas tecnologias e aplicativos de redes sociais tornaram a comunicação mais ágil e aproximaram pessoas que muitas vezes estavam em locais distantes. E isso também favoreceu as milícias e outros grupos vigilantistas.
Bruno Paes Manso: Eu acho que a tecnologia que mais ajuda e que foi um divisor de águas para essas organizações é a tecnologia de comunicação, de WhatsApp, de redes sociais, de Telegram, de celular…Isso permitiu aproximar essa rede, uma maior facilidade de comunicação e de construção de rede, de networking, de trabalhos horizontais e em diferentes territórios. Mas eu acho que, mais do que a tecnologia, a dominação é feita pela força bruta, pela força armada. Pela quantidade de fuzis, inclusive isso é uma coisa que apareceu muito para mim nas conversas, não sei se é uma coisa que chama a atenção do Pedro também, mas eu como paulista me chamou muito a atenção no Rio é que o poder territorial dos grupos armados era medido, de acordo com as pessoas que eu entrevistava, pela quantidade de fuzis. Então, tem um grupo que tem 400 fuzis, o outro grupo tem 200 fuzis, o outro tem 50. Eles fazem um bonde e conseguem juntar “X” fuzis para atacar ou para se defender, e por isso eles são mais fortes ou mais fracos. Então, eu acho que a tecnologia ajuda, principalmente a questão da comunicação, inclusive dentro dos presídios e fora, os celulares permitem esse tipo de diálogo que até os anos 2000 eram mais difíceis, né? Mas é principalmente a força bruta e a disposição para a guerra, a disposição para matar em defesa da autoridade deles no território. Eles exercem uma tirania nos territórios e punem, ou executam na pior das hipóteses, aqueles que contestam seu poder. E que ameaçam o seu poder de alguma forma ou as suas regras. Então, pode ser desde alguém que não paga uma taxa de segurança no comércio, que ele fala que está muito caro ou, depois de sucessivos aumentos, ele resolver não pagar, no dia seguinte a loja dele é roubada e todos os equipamentos e material que tinha dentro da loja é roubado. Ou, principalmente nos anos 2000 quando era proibido o consumo de drogas ou a venda de drogas, alguém que fosse pego fumando maconha na rua podia tomar uma surra pública ou mesmo o corpo aparecer, morto, e o boato circulava, porque são pessoas que desrespeitam as regras ou desacreditam da autoridade da milícia. E essa violência tem um caráter pedagógico, no sentido de buscar reforçar a autoridade que eles exercem naquele território. Então é uma espécie de tirania territorial, né?
Anna Venturini: E além das punições pelas milícias, outra ação considerada vigilantista que merece destaque é o linchamento.
Felipe de Paula: Há muitos séculos, existem ações coletivas para punir pessoas acusadas de crimes ou violações. Mas o termo linchamento só surgiu nos Estados Unidos no século 18.
Anna Venturini: Vale destacar que apesar de serem tipos de justiça com as próprias mãos, há diferenças entre o vigilantismo que falamos até agora e alguns linchamentos. Enquanto no caso das milícias, esquadrões da morte e outros justiceiros há uma vigilância para supostamente reprimir o crime, os linchamentos “típicos” são resultado de uma decisão súbita, espontânea e irracional dos linchadores.
Felipe de Paula: Segundo o professor José de Souza Martins – que pesquisa os linchamentos no Brasil há mais de 20 anos -, os linchamentos se baseiam em julgamentos frequentemente súbitos, carregados da emoção do ódio ou do medo, em que os acusadores são quase sempre anônimos. Os linchadores se sentem dispensados da necessidade de apresentação de provas que fundamentem suas suspeitas, e a vítima não tem nem tempo, nem oportunidade de provar sua inocência. É um julgamento sem juiz neutro ou possibilidade de recurso.
Anna Venturini: Em 2014, um adolescente foi espancado e preso por uma tranca de bicicleta a um poste no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio. O adolescente foi encontrado sem roupas por um morador da região, que depois postou a foto do ocorrido na internet e o adolescente foi acusado por outros moradores de ser um um assaltante conhecido na região.
Felipe de Paula: Em 2015, um homem foi amarrado a um poste e espancado até a morte por um grupo de moradores após ser considerado suspeito de uma tentativa de assalto a um bar em São Luís, no Maranhão.
Anna Venturini: Esses são só dois exemplos emblemáticos, e a Camila refletiu sobre a relação desse tipo de reação pela sociedade e a própria atuação do Estado.
Camila Asano: Eu acho que esses casos mostram o quanto a gente precisa urgentemente discutir o que é uma política de segurança pública, porque, por muitos anos, por muitos governos, em vários estados, o que predomina é uma ideia de uma política violenta, de morte, uma política que não olha com racionalidade, não olha pra números, não olha pra estudos, quando vai definir ações, por exemplo como as operações policiais no Rio de Janeiro. Então, enquanto a gente tiver uma lógica que a reposta, vou pegar aqui o caso do Estado do Rio de Janeiro como um exemplo, enquanto ainda for a resposta básica pra violência urbana a operação policial, não tem como a gente esperar outra coisa que não uma sociedade onde tenha essa violência toda, inclusive que leve a casos extremos como o caso que você menciona do linchamento. E o que a gente precisa discutir é quais são as bases e se isso pode ser chamado de política de segurança pública.
Felipe de Paula: E, assim como no caso das milícias, as redes sociais também têm exercido um papel de disseminação de boatos e fotos sobre supostos crimes, o que contribui para a ocorrência de linchamentos. O Pablo Nunes – nosso entrevistado no terceiro episódio – falou um pouco sobre isso:
Pablo Nunes: Agora, o vigilantismo é algo muito importante, eu tenho pesquisado isso já há algum tempo, e muito nessa chave de tentar entender como é que a população lida com as informações que circulam na internet e como é que essas informações de certa forma podem gerar casos de linchamento e de justiça pelas próprias mãos nesse ambiente. Não é incomum a gente ter esses casos de vigilantismo por meio mesmo de pessoas, cidadãos ali, vizinhos, etc., nas páginas de Facebook que se dedicam aos temas de segurança pública em determinados bairros aqui no Rio e não era incomum que em posts se tinha a veiculação de uma foto de uma pessoa dizendo que essa pessoa era uma suspeita de ter cometido um crime, seja estupro, um roubo etc., e posteriormente essa pessoa ser encontrada morta ou às vezes sofrer um linchamento, ter graves lesões. Isso de certa forma também está dentro de um histórico de linchamento e de justiça pelas próprias mãos que o Brasil tem, não só no Rio de Janeiro mas em outros estados e regiões do país, mas que aqui no Rio de Janeiro de certa forma, tem uma nova especificidade que é o papel das milícias nessa situação. Outra coisa também que opera uma relação muito intensa aqui também na violência do Rio de Janeiro é o próprio whatsapp. O whatsapp é uma forma muito grande de espalhamento de notícias falsas, boatos, e que muitas das vezes podem levar a casos de espancamento e linchamento. Milicianos são muito organizados em grupo de whatsapp com ou não a participação de policiais da ativa e não é incomum também a gente ter casos em que policiais pegam um dado suspeito, tiram uma foto com seu celular e joga num grupo para ver se alguém ali tem algum indício sobre essa pessoa. E muitas vezes isso pode significar a morte mesmo de uma dessas pessoas presas ou pegas por esse miliciano ou por esse policial. Então, tem vários mecanismos e várias formas de operar vigilantismo aqui no Rio de Janeiro e com uma participação muito frequente de grupos de milicianos.
Anna Venturini: E vale lembrar também que ações vigilantistas também aconteceram na pandemia. Nos primeiros meses da pandemia no Brasil, os estados começaram a criar hospitais de campanha por conta do aumento do número de casos e internações. E no meio da crise com os governadores e do negacionismo da gravidade da situação, o presidente Bolsonaro pediu que apoiadores “arranjassem uma maneira“ de entrar em hospitais de campanha e filmassem o interior do local para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Isso desencadeou uma série de invasões a hospitais, apesar do risco de contágio.
Felipe de Paula:E os casos de violência e justiça com as próprias mãos não têm apenas brasileiros como alvo. Tem se tornado cada vez mais recorrente casos de violência contra migrantes e refugiados. Derivam diretamente do que chamamos de xenofobia, um sentimento de hostilidade contra pessoas por conta da sua nacionalidade.
A Camila lembrou que, apesar do Brasil ser um país composto por imigrantes e ter a fama de ser acolhedor para estrangeiros, isso depende muito de quem é o estrangeiro, de sua raça e de seus costumes, ou melhor, de quae país ele vem.
Camila Asano: É bem interessante trazer essa discussão pro campo dos ataques contra imigrantes e refugiados, porque xenofobia é algo que a gente não fala muito no Brasil porque fica esse suposto país que é aberto a todos e todas, é um país construído por imigrantes, mas que na realidade nós temos um.. um número muito preocupante de casos de ataques xenofóbicos, e que também a xenofobia vem ganhando bastante força.
Anna Venturini: Um caso que ficou famoso foi o dos haitianos. Em 2010 o Haiti foi devastado por um forte terremoto. A Cruz Vermelha estima que cerca de 3 milhões de habitantes sofreram com as consequências do terremoto. Mais de 300 mil pessoas morreram. E por conta da pobreza, o Haiti enfrentou muitas dificuldades para se reconstruir da devastação.
Felipe de Paula: Os efeitos da catástrofe e a crise econômica motivaram milhares de haitianos a migrarem para outros países e o Brasil foi um dos principais destinos. Os países tinham laços estreitos desde 2004 quando o Brasil passou a liderar a Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti.
Anna Venturini: A Camila nos lembrou também que a cidade de São Paulo sempre teve um intenso fluxo migratório e os haitianos não foram os primeiros imigrantes a chegar aqui. No entanto, a cidade não tinha abrigos específicos para acolher migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade.
Camila Asano: Esses casos de xenofobia tão espalhados pelo país. Tem nos preocupado cada vez mais, e também um pouco nessa dinâmica de quando há ausência de resposta do poder público, o ambiente torna-se muito mais fértil para uma reação mais reacionária da sociedade, então, se a gente pegar o exemplo de São Paulo: São Paulo sempre foi uma cidade marcada por fluxos migratórios, então dizer que foi uma novidade quando os haitianos chegaram em São Paulo é uma má condução histórica da política pública né, não estou aqui atribuindo a uma administração ou outra, mas se São Paulo sempre recebeu fluxos migratórios, como que a gente ainda não tinha um abrigo específico para recém chegados, migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade? Porque é uma população que tem necessidades diferentes, não é então, achar que você pode usar a estrutura de um abrigo para populações em situação de rua, para questões de violência doméstica, são necessidades e formas de atender de forma distinta. Então, São Paulo já tinha percebido, tanto que na época, a prefeitura já tinha criado uma coordenação de políticas municipais para migrantes, e estava em processo de discutir, ter uma casa de acolhida, um abrigamento para migrantes recém chegados em situação de vulnerabilidade. Mas o fluxo haitiano chegou antes, tanto que aí teve que correr atrás e lidar com essa chegada e disso então acho que a cidade finalmente aprendeu. Tanto que quando o fluxo venezuelano acaba também chegando a São Paulo, porque as migrações elas são muito dinâmicas e elas não ficam ali restritas às regiões de fronteira. São Paulo talvez estivesse melhor preparada porque nós já tínhamos o CRAE, o Centro de Referência para o Atendimento ao Migrante, a gente já tinha esses espaços de acolhimento e abrigamento específicos, um Conselho Municipal para políticas migratórias. Discussões que já estavam sendo avançadas no âmbito da Câmara de Vereadores sobre a temática. Então, isso já permite que a política pública, naquele momento, e não vou nem chamar de crise, porque não é uma crise migratória, a gente que quando lida mal, acaba gerando a crise. Era um fluxo que faz parte da cidade, da dinâmica da cidade, sempre fez né? A gente pode olhar que a história de São Paulo, pegando como exemplo, sempre teve chegadas de pessoas de distintas nacionalidades ao longo do tempo. Eu acho que, quanto mais as cidades entenderem e pararem de ficar tentando tapar o sol com a peneira e verem que essa é uma realidade, e se adequarem e estarem melhor preparadas, até porque é melhor né, melhor que você tenha uma política pública já preparada, porque aí você não faz uma sobrecarga no sistema público de assistência social, no sistema de educação, você consegue preparar também os servidores da ponta, pra saber que existe também população que têm questões tanto do idioma, como que podem trazer questões de saúde distintas, por virem de outras partes do mundo.
Felipe de Paula: Nos anos seguintes à chegada dos haitianos, ocorreram diversos ataques violentos voltados a cidadãos dessa nacionalidade. Em 2015, sete haitianos foram baleados no centro de São Paulo. Em 2018, mais seis haitianos foram baleados. Pelas informações prestadas pela Missão Paz e por vítimas que estavam na escadaria da igreja, um dos responsáveis pelo ataque de 2018 estava de carro e, antes de atirar, gritou: “Haitianos, vocês roubam nossos empregos!”
Anna Venturini: Situação semelhante ocorreu em Roraima com os imigrantes venezuelanos. A cidade brasileira de Pacaraima – que fica na fronteira com a Venezuela – começou a receber milhares de refugiados a partir de 2016. Em 2018, um pequeno grupo de moradores de Pacaraima incendiou barracas e pertences de refugiados venezuelanos. Vídeos mostram os brasileiros gritando “bota fogo” e carregando pedaços de madeira e pedras.
Camila Asano: Nós vimos já nesses últimos anos de intensificação da chegada dos venezuelanos e venezuelanas em Roraima, atos assim muito, muitos violentos e graves, então teve casos de moradores da cidade de Pacaraima, que é a cidade que faz fronteira do Brasil com a Venezuela, de moradores ateando fogo, nos poucos pertences que os venezuelanos tinham e que estavam ali em situação de rua. Quando você tem a migração forçada, é aquelas que as pessoas vêm muitas vezes com a roupa do corpo e uma pequena mochila, porque é uma travessia longa, de muitas vezes semanas, e elas vão trazer o mínimo do mínimo né, é aquelas cenas que a gente tem um pouco de referência dos filmes dos fluxos de refugiados, então não é aquela viagem planejada em que você manda a sua mudança primeiro, separa seus objetos queridos, separa as fotografias da família, separa os livros, traz roupa de verão, inverno, não! O fluxo de migração forçada, ele é pela sobrevivência mesmo, então, é aquela imagem que você vê de famílias chegando com o que dá pra carregar nos ombros mesmo. Então, esses poucos pertences foram queimados, em um exemplo aí de atos violentos promovidos na própria sociedade. Teve também um caso que mexeu muito, que foi uma casa que estava alugada por venezuelanos que foi incendiada e até o menino acabou sendo vítima, um menino venezuelano, muito caso também de destruição de barracas que as pessoas estavam vivendo em situação de rua. Aqui a gente fica sempre observando e analisando quando esses casos acontecem. Acho que é um bom exemplo dessa ideia de que esses atos que a gente está chamando aqui de vigilantismo, dessas ações paralegais de violência e ataques, elas acontecem ou no vácuo, de propósito deixado pelo poder público, ou por incentivo de ações concretas do poder público. E aí eu dou exemplo no caso de Roraima e dos migrantes e refugiados. Quando a gente via, por exemplo, casos de ataques a venezuelanos que estavam vivendo em situação de rua, numa praça, que ironicamente é a praça Simon Bolívar. Esses ataques aconteceram logo depois que as autoridades locais decidiram que iriam tampar a praça, então eles colocaram um tapume, fechando totalmente a praça, proibindo que aquelas pessoas pudessem frequentar, colocar ali as suas barracas. Então, é uma reação quando o poder público toma atitudes que são intolerantes, que são irresponsáveis, já acontece isso. As autoridades locais em um determinado momento, decidiram exigir que as pessoas tinham que ter passaporte válido para poder acessar o SUS lá em Roraima, o que é uma inconstitucionalidade, assim, não tem que exigir nenhuma documentação para poder ter acesso ao Serviço Universal de Saúde. Quando a autoridade ela age dessa forma, cria espaço para incentivar e aí a gente viu que nesse mesmo momento tinham também muitos ataques acontecendo.
Felipe de Paula: É importante dizer, Anna, que casos de xenofobia e violência contra imigrantes, também são influenciados pela cobertura dada pela imprensa. Muitas notícias utilizam termos técnicos equivocados para se referir aos migrantes, não mencionam corretamente seus direitos ou usam expressões estigmatizantes. A Camila falou um pouco sobre isso.
Camila Asano: No tema de migração a gente tem conversado muito isso com jornalistas, sobre o papel da imprensa e do jornalismo no combate a xenofobia, porque, enquanto a imprensa tiver cobrindo, por exemplo, de forma equivocada nos termos, equivocada tecnicamente, misturando o que é refugiado, de quais são os direitos dos migrantes, então, acho que tem uma questão mesmo da própria capacitação técnica para cobrir um fenômeno que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo no nosso país. Também a questão sobre o uso de termos estigmatizantes então, um deles é “ilegal”, por que a gente ta chamando essas pessoas de ilegais? Nenhum ser humano é ilegal, é uma das grandes bandeiras do movimento de migrantes e refugiados. Então, a migração ela pode ser irregular, porque ela não está dentro das regras impostas pelo país, mas a pessoa não é ilegal, ela está em situação migratória irregular. Porque se você chama a pessoa de imigrante ilegal, você já trouxe todos os estigmas possíveis pra aquela pessoa ser entendida como “o errado”. A própria ideia do refugiado falam: “ah o refugiado é o foragido né, por que que não pôde ficar no seu país? Está fugindo? É criminoso?”. Sendo que na realidade, muitas vezes, são pessoas que estão fugindo de perseguições, fugindo de grupos terroristas, fugindo das mais distintas opressões, que também são promovidas pelo Estado de origem. A imprensa também, aí no caso de Roraima, a gente viu muito que era a imprensa cobrindo também, então era “venezuelano rouba uma bicicleta”, “venezuelano rouba um celular”, e isso vinha na manchete. E qual era o sentido disso, de você destacar a nacionalidade e não o ato que aconteceu, então, destacar na manchete isso. E também, qual era o sentido de reportar coisas assim de roubo de um celular é motivo pra está na home do principal jornal da cidade? Então, essas escolhas, que são escolhas editoriais, elas também são escolhas que vão acabar gerando, esse ambiente, e aí também servindo como um fator que sobe a temperatura, também, a gente tem conversado muito e tem sido bastante interessante essas trocas. Porque muitas vezes, é não proposital que isso é feito, então usar o termo “ilegal” muitas vezes falam: “ah, é que é meio no automático, que bom que você me chamou atenção, porque a gente usava um pouco no automático”. E aí, numa conversa você vê o jornalista, a jornalista, também já parando de usar, sabe? A usar termos como invasão, por que a gente vai falar de invasão? Cê vai falar de invasão haitiana? Calma, olha os dados. Então tinha muito mais, por exemplo, portugueses no Brasil do que haitianos, então por que que a gente usa o termo invasão para falar na época dos haitianos, mas não usa invasão pra falar dos portugueses? Se a gente vai falar de enxame, enxurrada, então assim, é o quanto a gente vai também desumanizando essas pessoas, usando esses termos, que nem em fatos numéricos de dados, de estatística se seguram. Então, acho que o papel da imprensa também é bem importante.
Anna Venturini: Como pudemos ver até aqui, alguns grupos correm mais risco do que outros quando o assunto é vigilantismo. E, já que falamos de contextos urbanos, não dá pra esquecer das áreas rurais do país, da violência do campo e, especialmente, das violências contra povos indígenas e suas terras.
Felipe de Paula: Nos últimos anos, diversas organizações têm trabalhado para visibilizar a violência realizada por grupos privados contra os povos indígenas. Em 2016, o Conselho Indigenista Missionário criou uma plataforma que mapeia os assassinatos de indígenas ocorridos no Brasil entre 1985 e 2015, e já contabiliza 1.071 registros de mortes violentas. A plataforma se chama Caci, “Cartografia de Ataques Contra Indígenas”, e também significa “dor” em Guarani.
Anna Venturini: Pois é, Felipe, e esses números são apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior e mais antigo. E aqui voltamos mais uma vez para a ditadura militar. Como já conversamos, esse período influenciou diretamente a formação dos esquadrões da morte e das milícias urbanas. Mas vocês sabiam que o regime militar também foi responsável pela criação de um grupo paramilitar destinado ao policiamento ostensivo das áreas reservadas aos povos indígenas?
Felipe de Paula: Estamos falando aqui da Guarda Rural Indígena, a GRIN, instituída por uma Portaria da Funai em setembro de 1969. A Comissão Nacional da Verdade menciona a GRIN como uma organização que recrutava indígenas das regiões do Araguaia, Tocantins e Minas Gerais para atuarem como força policial nas áreas indígenas.
Anna Venturini: Em 2015, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública para tratar das graves violações de direitos dos povos indígenas durante a ditadura. A ação trata de três marcos importantes: a criação da Guarda Rural Indígena, a instalação de um presídio indígena no município de Resplendor em Minas Gerais, conhecido como Reformatório Krenak, e o deslocamento forçado de indígenas para Fazenda Guarani em Carmésia, outro município de Minas Gerais, e que também foi utilizado como centro de detenção e tortura de indígenas.
Felipe de Paula: Na ação, o Ministério Público Federal relata que a GRIN era composta por 84 indígenas, recrutados de diferentes etnias, como os Craós, os Xerente, os Carajás e os Maxacali. Eles foram treinadas pela Polícia Militar de Minas Gerais, que não só ensinava técnicas de tortura, como fazia demonstrações públicas dessas técnicas. Vamos ouvir agora o Edmundo Antônio Dias, um dos procuradores que assinou a ação civil pública.
Edmundo Antônio Dias: Guardas rurais e indígenas exerciam uma relação de poder que não estava prevista na forma deles se auto-organizarem. Isso é, por si só, uma forma de perversidade, porque você coloca, você tem ali os índios sendo obrigados, sendo levados a exercer uma forma de controle não indígena através da mão indígena.
Anna Venturini: E, se até agora nós falamos do surgimento de práticas vigilantistas a partir do vácuo ou da falta de ação estatal, vamos aproveitar a deixa histórica para tratar das ações que o Estado promove.
Felipe de Paula: Bom ponto, Anna! A Camila destacou também como o poder público pode contribuir ativamente para essas práticas. É o caso dos atuais ataques a indígenas e quilombolas.
Camila Asano: No Brasil é muito direto associar essa discussão de ações para estatais com a questão da segurança pública e aí vem toda a discussão sobre milícias por exemplo, mas também, se a gente for pensar na lógica da violência rural e desses grupos que são ali de um contorno de grupos de segurança privada, no âmbito rural e os enfrentamentos que tem, seja com movimento por direito à terra e reforma agrária no campo, grupos ligados a comunidades tradicionais como quilombolas, indígenas. A gente tem visto cada vez mais crescer os ataques de garimpeiros ilegais, que ocupam ilegalmente terras indígenas, contra povos indígenas. O caso Yanomami e Munduruku tão aí alarmando a sociedade dessa violência, e que esses grupos todos têm uma organização armada né, e de segurança que faz, não só a chamada segurança mas também o ataque a esses grupos. O Tucara, que é a associação Yanomami, que é presidida pelo Dario Copenaua, que é filho do Davi, a associação Tucara já vem denunciando a presença de, são mais de 20 mil garimpeiros que estão ilegalmente nas terras indígenas Yanomami. E com isso devastando o meio ambiente, primeiro que é uma atividade ilegal, não deveria existir dentro de uma terra indígena já demarcada, e eles tão desmatando e causando prejuízos muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente, com contaminação, mercúrio, inclusive, mas também atacando a saúde e levando doenças, isso eu to falando até de antes da pandemia, imagina agora com a COVID-19. Mas epidemias, e levando doenças que são arrasadoras para essas comunidades que não vivem nos ambientes onde nós vivemos, onde esses vírus e bactérias e enfim, e essas doenças circulam. O que a gente tem já era esses danos ocorridos por essa atividade ilegal, com uma tolerância do Estado, porque para você ter 20 mil garimpeiros dentro de uma terra indígena, é porque existe uma tolerância dos órgãos de fiscalização, e pra além dessa questão né, da destruição do meio ambiente, a contaminação ambiental mais as doenças, você ainda tem a violência, mesmo. Então, nos últimos meses aqui, a gente tem visto, aqueles ataques a tiros, inclusive duas crianças Yanomami foram encontradas mortas e os seus corpos boiando no rio, porque num ataque a tiros dos garimpeiros contra uma das aldeias, essas crianças fugiram desesperadas e acabaram se afogando e morrendo. E ainda assim não temos uma atuação, uma reação à altura, mesmo do judiciário então já existe ali, no caso da ADPF com relação aos indígenas, a proteção dos indígenas durante a pandemia de COVID-19, um dos pedidos era a extrusão dos garimpeiros, só que esse ponto ele não foi suficientemente tratado e incluído na decisão ali do Supremo, então os movimentos, dos povos indígenas, junto com entidades de direitos humanos, entidades ambientais tão atuando insistindo nisso. Se você for olhar, o número de terras públicas que ainda existem na região Amazônica, do quanto você poderia ter as atividades econômicas ocorrendo em outros locais, e a importância das terras indígenas seja pelo direito constitucional dessa população, mas também porque as terras indígenas acabam sendo os locais onde mais se conserva o meio ambiente.
Anna Venturini: A Camila inclusive lembrou de uma fala do presidente Jair Bolsonaro na ONU em ele promete que não irá mais demarcar terras indígenas e ataca uma das principais lideranças indígenas, o Cacique Raoni, chamando-o de “peça de manobra de governos estrangeiros”.
Camila Asano: O presidente Bolsonaro que não tem o menor cuidado quando ele faz essas falas sobre povos indígenas. Imagina, presidente Jair Bolsonaro usou a tribuna da Assembleia Geral da ONU, em 2019, fazendo discurso na abertura da Assembleia Geral, para atacar o cacique Raoni. Então, um presidente, autoridade máxima do país, quando usa a tribuna da ONU para atacar uma liderança indígena, amplamente conhecida e respeitada mundialmente, é de se esperar que exista uma proliferação de ataques a indígenas. Então, acho que isso é um ponto que me preocupa muito, a Conectas também, e acho que é algo que a gente precisa sem dúvida nenhuma, de mais atenção desses ataques, porque a gente já sabe, o ataque vindo do poder público, da máquina pública contra os povos indígenas. Agora, o quanto isso está criando o tal do vácuo intencional e essa coisa do instigar para ataques que saiam né, aparentemente espontâneos da sociedade, muito em breve a gente vai ver um crescimento dessa violência.
Anna Venturini: Como vimos, essas ações vigilantistas são recorrentes no Brasil, já que a violência é vista como pedagógica por parte da população e a política de segurança do Estado acaba deixando espaço para que grupos atuem à margem da lei e indivíduos sintam a necessidade de fazer justiça com as próprias mãos e linchar suspeitos.
Felipe de Paula: Bom, Anna, e diante desse cenário, o que o Estado poderia fazer para evitar o crescimento desse tipo de atividade? Tanto o Bruno quanto a Camila destacaram a importância de repensarmos a nossa concepção de segurança pública. Enquanto prevalecer a visão de que só teremos segurança se tivermos violência, continuaremos tendo ações paraestatais e vigilantistas.
Bruno Paes Manso: Eu acho que o papel do Estado, e talvez o caminho a ser seguido pelo Estado, é prestar atenção e focar na redução dos homicídios no Brasil. Porque os homicídios, mais do que um problema criminal, é um problema político. Porque os homicídios têm sido usados por grupos tirânicos criminosos, tanto paramilitares como ligados ao tráfico, para impor sua lei nos territórios. Os territórios onde há concentração de homicídios, são territórios onde tiranos exercem, tentam exercer o seu poder e submetem uma grande quantidade de pessoas aos seus interesses criminais. E as pessoas precisam ficar quietas, precisam se sujeitar à violência desses grupos, para que eles ganhem mais dinheiro e fiquem ricos a partir do crime. Então, eu acho que onde há muito homicídio no Brasil, e é um problema concentrado, mais de 50% dos homicídios estão em 82 dos 5 mil municípios brasileiros, e nessas cidades estão concentrados em alguns bairros, existem tiranos submetendo a população aos seus interesses criminais, né? Impondo uma ordem cruel, do silêncio e muitas vezes as pessoas precisam abaixar a cabeça para essa tirania porque não tem a quem recorrer. Cabe ao Estado buscar exercer o monopólio legítimo da força em defesa do Estado de Direito, em defesa da garantia de direitos das pessoas. E eu acho que cabe à sociedade civil lutar pela redução da violência, e redução dos homicídios. Então, talvez um caminho mais imediato seria focar na redução dos homicídios, acho que seria uma forma de fortalecer politicamente as instituições.
Camila Asano: A lista do que esperar do Estado é tão longa, ainda mais pensando que estamos chegando num período aí já eleitoral, que nós temos eleições nos Estados, onde o tema da segurança pública, das polícias, das prisões, acaba sendo tão marcante nessas disputas das eleições estaduais. É esperar do Estado uma nova política de segurança pública, eu acho que a gente precisa discutir isso, porque, enquanto a gente continuar com esse modus operandi, criminoso do Estado, de uma política que tem como alvo a população, ao invés de ter a população como o bem máximo a ser protegido, e aqui ainda tendo como alvo especialmente a população negra, a gente vai continuar vendo esses atos aqui que a gente está discutindo de ações vigilantistas nesse sentido de ações paraestatais violentas. Então, acho que de uma lista longa que eu tenho aqui comigo, eu destacaria esperar do Estado e daqueles que vão ocupar o Estado após as eleições de 2022, seja nos Estados, nas Unidades da Federação, ou no Governo Federal, que de fato finalmente mudem, porque da forma como ta essa política de morte, ela já era insustentável, não sei como, né? Não poder respirar, que ficou tão marcado nos momentos em que George Floyd estava ali agonizando, é isso assim, já não dá mais pra respirar enquanto a gente tiver esse tipo de política de segurança pública, então eu destacaria isso.
Anna Venturini: A Camila também destacou a importância da atuação da sociedade civil no combate a ações vigilantistas:
Camila Asano: Sobre sociedade civil, o que esperar, né? Acho que um dos pontos importantes é questionar e combater essas falsas verdades, porque a gente acaba falando muito com a nossa bolha, sempre essa conversa de falar com a bolha, então por um tema de segurança pública, o caso da ADPF das favelas nos dá uma oportunidade incrível de poder ter esses dados comparáveis, de com operação policial e sem operação policial o quanto o número de mortes, promovidas pela polícia, mas também nas taxas de criminalidade, elas acabam reduzindo. Acho que é um papel nosso questionar constantemente essas falsas verdades no campo da segurança pública, seja também no campo da migração né, então tem sempre “ah, mas migrante vem, não contribui com nada e usam nosso SUS”, como não contribui com nada? Ele está aqui, ele está pagando imposto né, no Brasil você respira, você está pagando imposto. Qualquer coisa que você consome, você está pagando imposto. Como que ele não está contribuindo com nada? E olha, é pra eu dar um exemplo assim bem pequeno, desses mitos que são criados em torno da migração. E eu acho que também o papel da sociedade civil é como que a gente provoca as instituições que devem fazer o controle, seja da ideia dos freios e contra pesos, a ação quando o executivo, seja municipal, estadual, ou federal estiverem fazendo esse vácuo intencional, ou quando o poder executivo, nas três instâncias, também estiverem criando situações de incentivo, seja pelo discurso, seja por políticas violadoras de direitos humanos, ou seja por perseguição direta, que acabam gerando essa atuação um pouco de cópia e manada inconsequente e racional, mas enfim, é prejudicial pra todo mundo.
Anna Venturini: Pra fechar, já falamos aqui como somos vigiados tanto pelo Estado quanto por empresas privadas, e os riscos que isso gera para os indivíduos e para a democracia. Mas também é preciso colocar nessa matriz de riscos a atuação direta de grupos paraestatais e de indivíduos, que diante da falta de ação ou mesmo a partir do fomento pelo poder público resolvem agir diretamente e à margem da lei, quando se sentem ameaçados. Eles atuam para resolver alegados problemas de segurança e de emprego, difundindo compreensões equivocadas sobre o diferente, e sobre o outro. E como não podia deixar de ser, grupos vulneráveis são sempre os alvos preferenciais desse tipo de atuação.
Felipe de Paula: A gente já tá chegando ao fim deste episódio do Revoar, e assim como nas outras temporadas, a gente vai dar dicas de filmes e livros pra você continuar refletindo sobre o assunto. A Luisa Plastino perguntou aos nossos convidados sobre isso. Primeiro, as dicas da Camila Asano:
Camila Asano: Um, que é o livro “A máquina do ódio”, da jornalista Patrícia Campos Mello, que traz essa discussão toda sobre o vácuo intencional e esse incentivo direto fazendo o uso da máquina pública né, e é uma máquina pública produtora de ódio, então acho que é um livro que vale muito a pena, tenho um enorme respeito pela Patrícia, pelo trabalho dela e eu acho que ela fez um ótimo trabalho aqui no livro. Aí o outro livro que eu queria indicar é o “A queda do céu”, que é do Davi Kopenawa e do Bruce Albert, que chama “A queda do céu: Palavras de um xamã Yanomami”, e aí tá bem ligado no que a gente conversou hoje sobre esses ataques aos povos indígenas, o povo Yanomami, especificamente é atingido por essa atuação que vem da sociedade paralegal e paraestatal dos garimpeiros ilegais, e é muito né, do quanto a gente desconhece, e aí quando a gente desconhece é fácil a gente acaba caindo nessas falsas verdades, então, é um livro que eu li, é um livro bem longo, intenso, mas que eu recomendo muito, muito mesmo a leitura. Aproveita que a gente está na pandemia, então é um livro até pesado, digo em peso mesmo, e já que está em casa é um bom livro pra ler em casa, é um livro difícil talvez de ficar carregando por aí pelo peso, mas eu recomendo bastante.
Anna Venturini: O Bruno Paes Manso também trouxe algumas dicas:
Bruno Paes Manso: Mais do que uma dica cultural, vinculado a esse tema, existem livros importantes desde Abril Despedaçado, que eu gosto muito, até O Conde de Monte Cristo, que fala da questão da vingança, que eu acho que é um tema muito vinculado a essa questão da violência, e a essas dinâmicas de conflitos, né? Que, na verdade, estão associadas a problemas desde sempre da humanidade, e que muitas vezes é movida por esses conflitos relacionados à vingança. Mas, enfim, além desses clássicos que ficam aí na Literatura, tem uma dica que eu acho legal, que eu estou cada vez mais fascinado, vocês darem uma fuçada na Hemeroteca Nacional, no site da Biblioteca Nacional, onde existem uma imensa quantidade de jornais do século XX e final do século XIX de diversas cidades que permitem a gente pesquisar esse tipo de leitura da violência e da realidade, em diferentes jornais do Rio de Janeiro dos anos 50, 60, que trazem informações fascinantes assim, e é muito importante para a gente pensar como as coisas vão mudando e como são tão diferentes mas ao mesmo tempo são tão parecidas. E que a gente não consegue sair desse buraco, né, apesar de serem contextos diversos, uma linguagem muito diversa, como as coisas permanecem iguais. Então, esse site é incrível, porque você pode pesquisar por palavra-chave e você tem acesso à história do Brasil nas cidades, no cotidiano das cidades pelos jornais e pelas revistas, O Cruzeiro, Realidade, Fatos e Fotos, uma infinidade de veículos de comunicação de diferentes épocas que você se perde lá, e eu acho que é uma coisa muito legal de fazer.
Felipe de Paula: E a Luisa também tem dicas pra dar aqui no Revoar.
Luisa Plastino: A verdade é que não faltam dicas culturais sobre grupos vigilantistas. Se pararmos pra pensar, a maioria dos quadrinhos de super herói conta a história de algum personagem frustrado que com seus poderes decide fazer justiça com as próprias mãos. Mas para aprofundarmos nos temas do episódio de hoje, queremos dar duas dicas especiais. Primeiro, para se aprofundar sobre a história das Guardas Rurais Indígenas, o curta documentário “Arara: um filme sobre um filme sobrevivente”, que venceu o 34º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. E segundo, para refletir sobre o surgimento dos justiceiros nas cidades, queremos indicar a música “Charles Anjo 45” de Jorge Ben Jor, em que ele ficcionaliza sobre a história de um justiceiro do Rio de Janeiro. Aproveitem!
Felipe de Paula: Esse foi o sexto episódio da terceira temporada do Revoar, o seu podcast sobre liberdade e autoritarismo.
Anna Venturini: Nosso papo da semana que vem será sobre o vigilantismo no ambiente digital. Nossos convidados serão Caio Machado, advogado, especialista em desinformação e diretor do Instituto Vero; e Mariana Valente, doutora em Direito e diretora do InternetLab.
Felipe de Paula: Você também pode acompanhar o Revoar pelo Instagram, em @revoar.podcast, e pelas redes sociais do LAUT.
As referências dos áudios que a gente usou nesse programa tão na página do Revoar, no site do LAUT, em laut.org.br/revoar.
Anna Venturini: O Revoar é uma produção da Rádio Novelo para o LAUT – o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo.
A coordenação é da Paula Scarpin e da Clara Rellstab. A produção é da Clara Rellstab, e a edição é da Claudia Holanda e da Julia Matos. A pesquisa para este podcast é do Pedro Ansel e da Luisa Plastino, que também participam das entrevistas. A música original é da Mari Romano, e a finalização e a mixagem do programa são do João Jabace. A coordenação digital é da Iara Crepaldi, e da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição. A Andressa Maciel cuida do design de mídias sociais desse podcast.
Fiquem bem. E até semana que vem.
Felipe de Paula: Nos vemos na próxima revoada. Até lá!
São muitas as manifestações do vigilantismo no Brasil: desde ‘vigilantes’ de bairro e linchamentos de pessoas até policiais organizados para extermínio e milícias punitivas. Essa lista engloba ações de grupos paramilitares; violência contra imigrantes, indígenas e populações vulneráveis; e, com a pandemia, inclui ainda invasões a hospitais de campanha, estimuladas pelo Presidente da República, a fim de verificar a real ocupação dos leitos.
Assim como suas expressões, as causas desse fenômeno no país são várias. O vigilantismo é, em grande parte, resultado de um passado ditatorial recente e da percepção de parte da população de que a violência é pedagógica. Também é fruto da política de segurança do Estado, que deixa espaço para grupos privados e indivíduos atuarem à margem da lei e fazerem justiça com as próprias mãos.
Além de ocorrer nesse vácuo – às vezes, proposital – deixado pelo Poder Público, as ações vigilantistas podem ser impulsionadas pelo próprio governo, ao incentivar atos violentos, intolerância e perseguição de determinados grupos e pessoas. É o caso dos atuais ataques de autoridades públicas a indígenas e quilombolas no país. Um exemplo disso foi a fala de Jair Bolsonaro na ONU, quando prometeu que não iria mais demarcar terras indígenas e chamou o Cacique Raoni, uma das principais lideranças indígenas, de ‘peça de manobra de governos estrangeiros’.
Diante desse cenário, o que o Estado poderia fazer para evitar o crescimento desse tipo de atividade? Para refletir sobre esse assunto, Anna Carolina Venturini e Felipe de Paula conversam com Bruno Paes Manso, jornalista e autor de ‘A República das Milícias’, e com Camila Asano, diretora de Programas da Conectas Direitos Humanos e ex-conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos.
Em ‘Justiça encapuzada: quem vigia os vigilantes?’, esses especialistas destacaram a importância de repensarmos a nossa concepção de segurança pública: enquanto prevalecer a visão de que só teremos segurança se tivermos violência, continuaremos tendo iniciativas paraestatais e vigilantistas. Foi ressaltada também a importância da atuação da sociedade civil no combate a essas ações.
Aprofunde-se no tema
Ao final do episódio, nossos apresentadores e convidados indicam livros, filmes, documentários e artigos que colaboram para o aprofundamento do tema discutido. Confira:
Bruno Paes Manso recomenda:
- O livro ‘Abril Despedaçado’ (1978), de Ismail Kadaré, pela editora Companhia das Letras.
- O livro ‘O Conde de Monte-Cristo’ (1844), de Alexandre Dumas, pela editora Martin Claret.
- O site Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional.
Camila Asano indica:
- O livro ‘A Máquina do Ódio’ (2020), de Patrícia Campos Mello, editora Companhia das Letras.
- O livro ‘A Queda do Céu’ (2015), de Davi Kopenawa e Bruce Albert, editora Companhia das Letras.
Luisa Plastino sugere:
- O filme ‘Arara: um filme sobre um filme sobrevivente’ (2017), de Felipe Canêdo.
- A música: ‘Charles, Anjo 45’, de Jorge Ben.
Áudios utilizados no episódio 06
- Trecho do documentário ‘Você Também Pode Dar Um Presunto Legal’ (2007), de Sergio Muniz.
- Trecho do curta ‘Arara: um filme sobre um filme sobrevivente’ (2017), de Felipe Canêdo.
–
O Revoar é publicado semanalmente, às quintas-feiras, sempre no começo do dia. A temporada Vigilância, vigilantismo e democracia é apresentada por Anna Carolina Ribeiro e Felipe de Paula, com produção da Rádio Novelo.
Para falar diretamente com a equipe, escreva para revoar@laut.org.br.
Acompanhe o Revoar também no Instagram.

Jornalista, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência (USP), autor de ‘A República das Milícias’ e coautor de ‘A Guerra’.

Diretora de Programas da Conectas Direitos Humanos, formada em Relações Internacionais pela USP e mestre em Ciência Política pela mesma Universidade. Foi conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos e recebeu da ALESP o prêmio Beth Lobo de Direitos Humanos das Mulheres.
Ficha técnica
Redes sociais: Andressa Maciel e Iara Crepaldi
Para falar com a equipe: revoar@laut.org.br